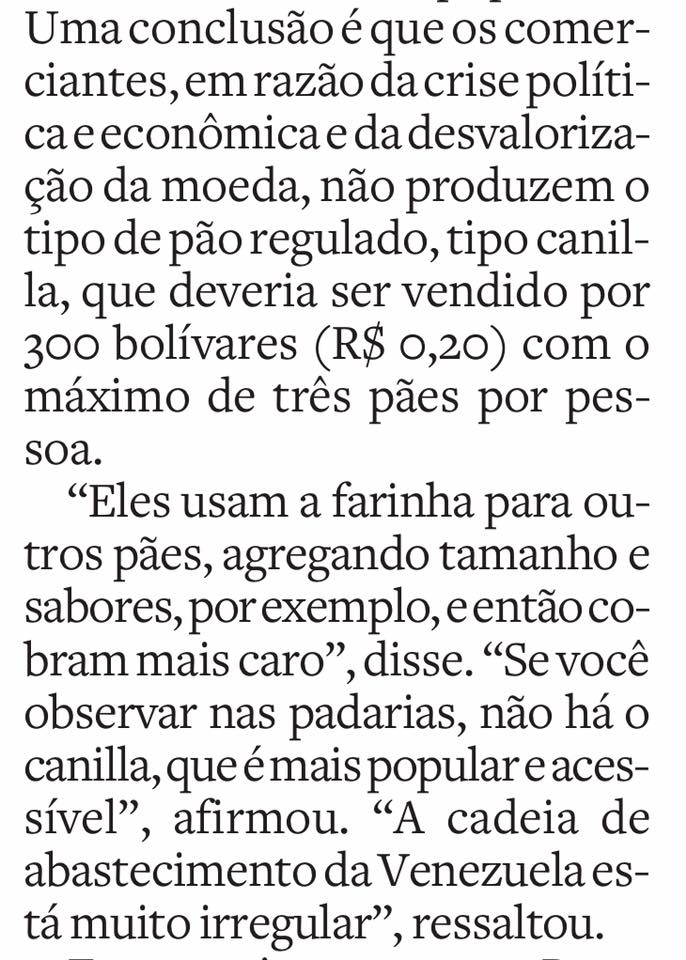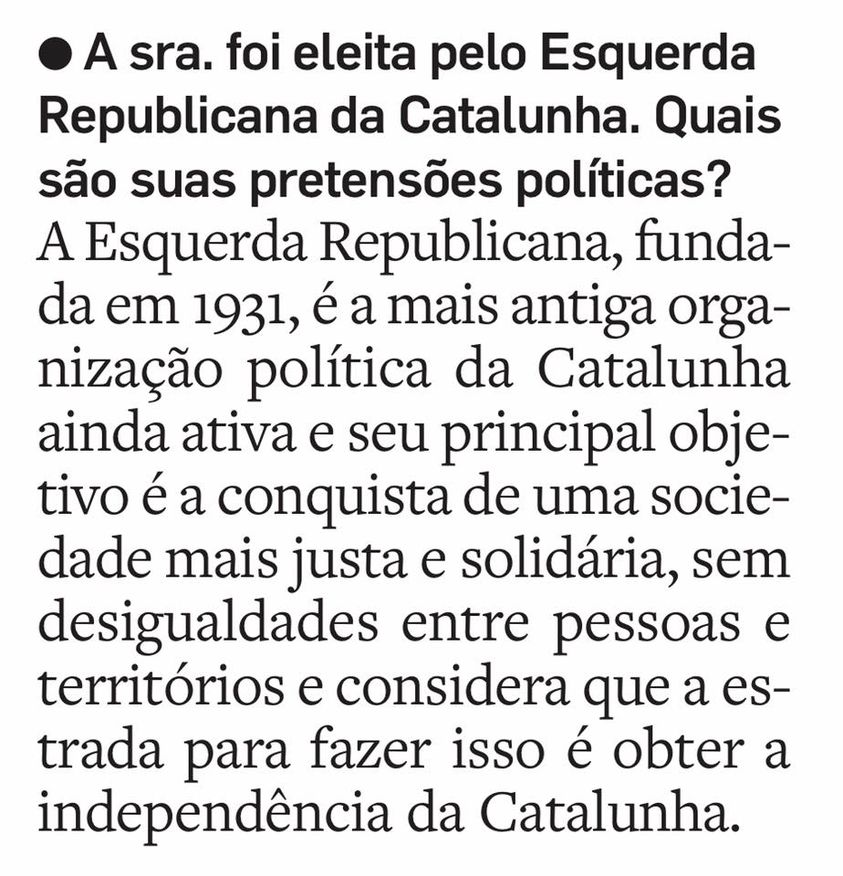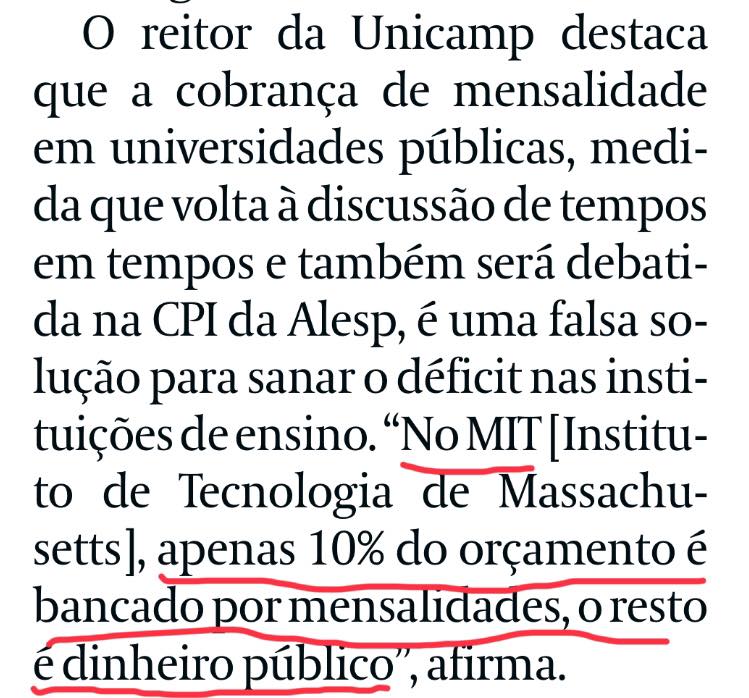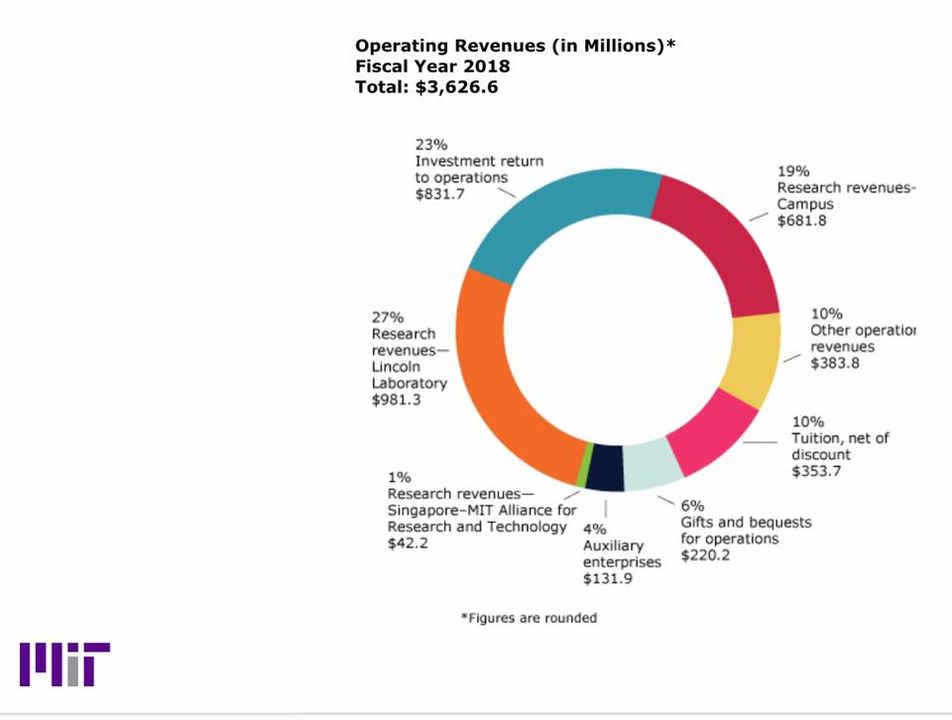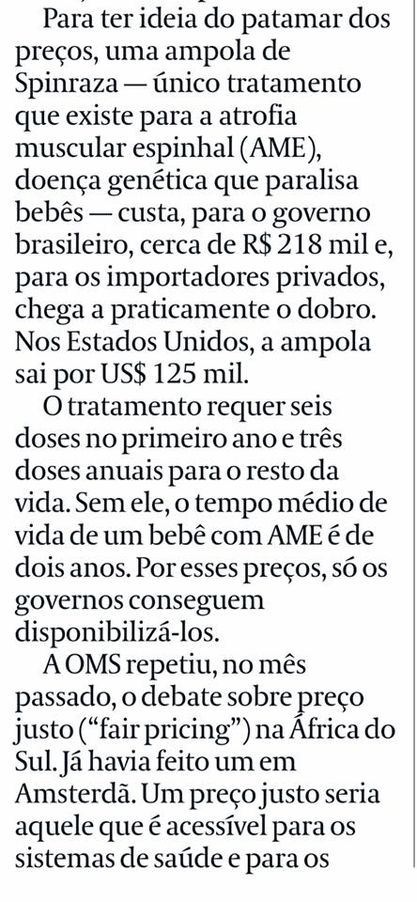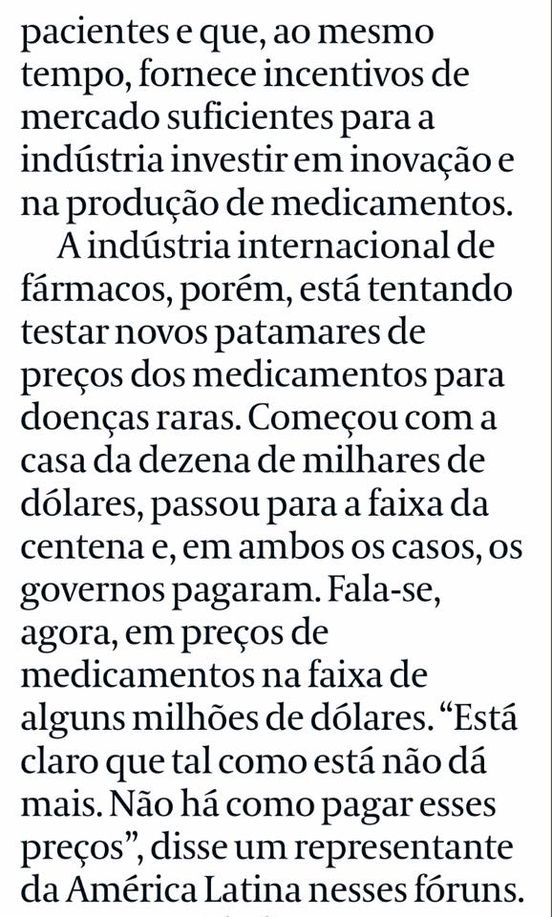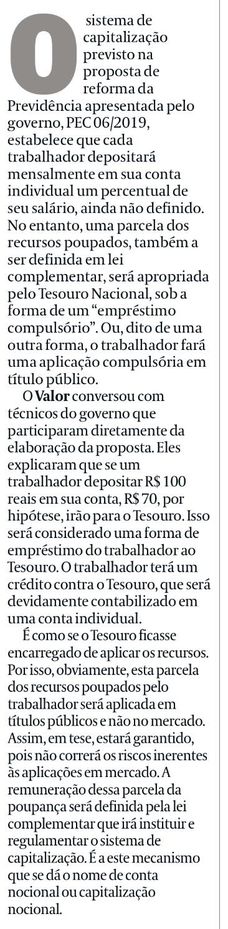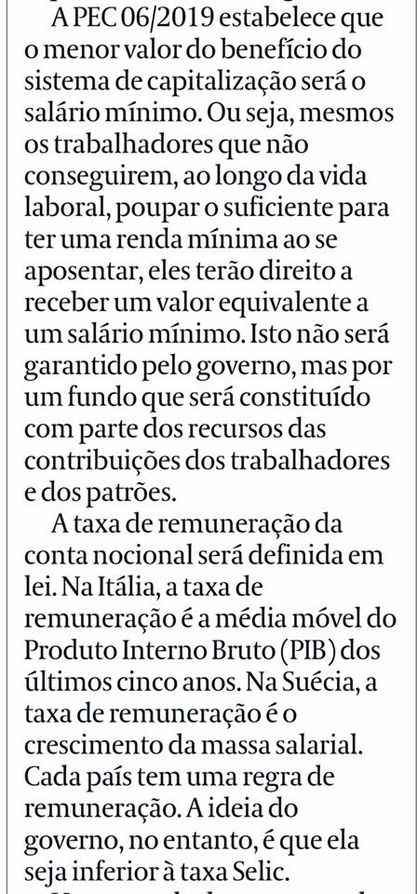O VAR veio com a promessa de acabar com os “erros” da arbitragem. Afinal, não tem como errar vendo um lance em câmera lenta varias vezes.
Será?
Quem assiste futebol pela TV sabe que isso é balela. A interpretação dos lances pelos comentaristas muitas vezes é contraditória, e às vezes ficamos em casa nos perguntando que jogo o comentarista está assistindo ao comentar determinados lances, de tão esdrúxula é a interpretação.
O VAR serviu apenas para acrescentar mais uma polêmica a um jogo já cheio delas. Existe a ilusão da verdade absoluta, aquela cientificamente provada, acima de qualquer interpretação humana. Uma ilusão, como disse, pelo menos no futebol. Se assim fosse, não precisaríamos de árbitro em campo, bastaria o VAR.
Além de ser caro e chato bagarai, com suas longas interrupções em momentos decisivos do jogo, o VAR representa uma promessa de justiça que, no final, não consegue entregar, o que somente piora a situação.
Espero que essa experiência com o VAR seja útil pelo menos para convencer a todos os que amamos o futebol de que erros de arbitragem são parte inseparável do esporte, com ou sem VAR. E que, portanto, o VAR pode ser dispensado pela sua completa inutilidade.