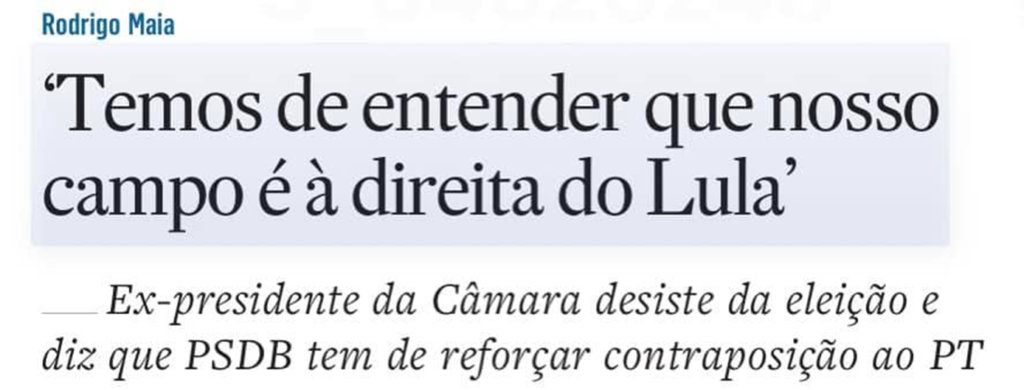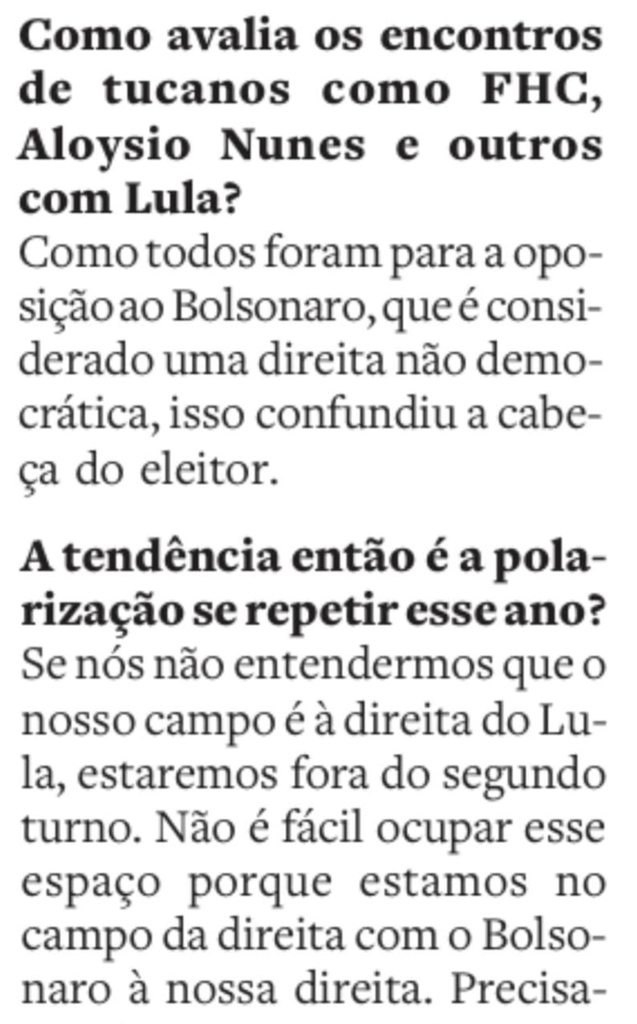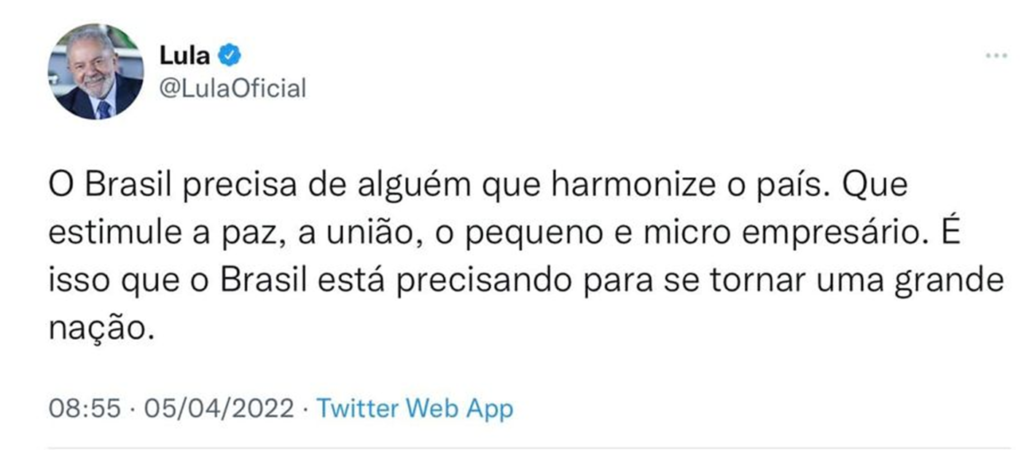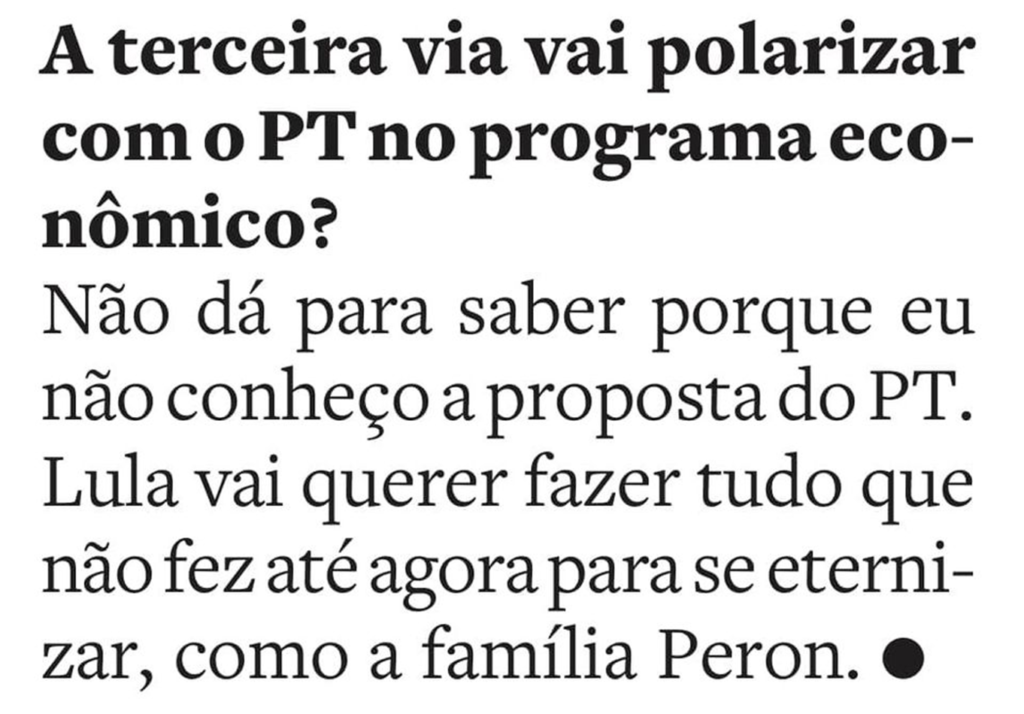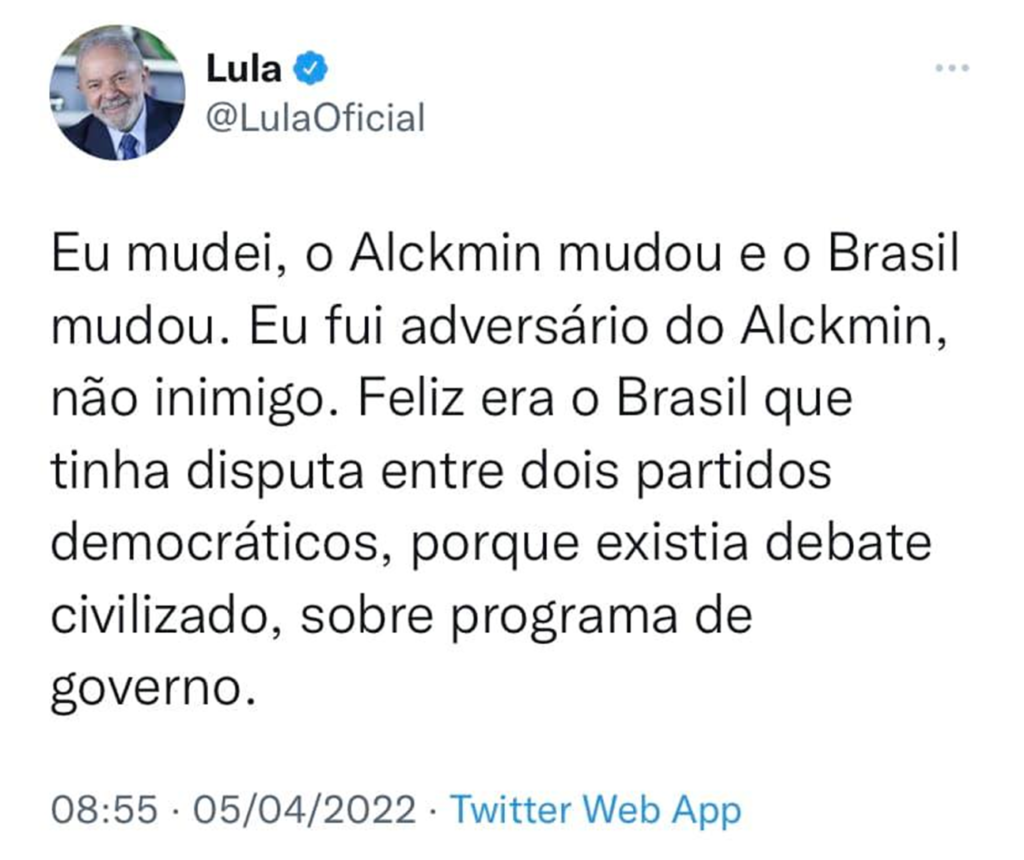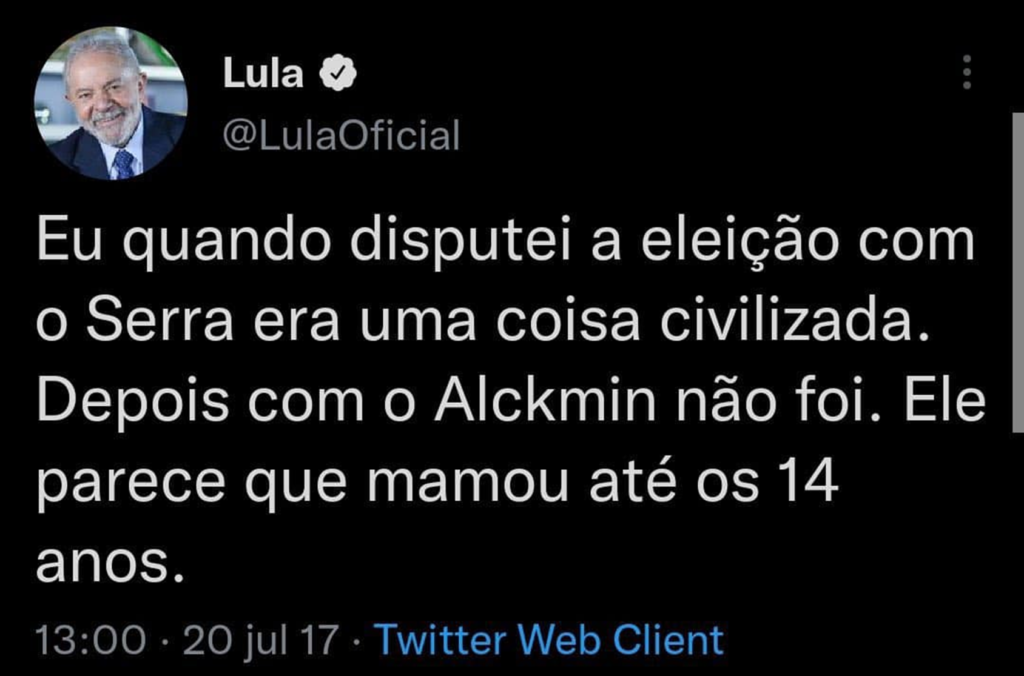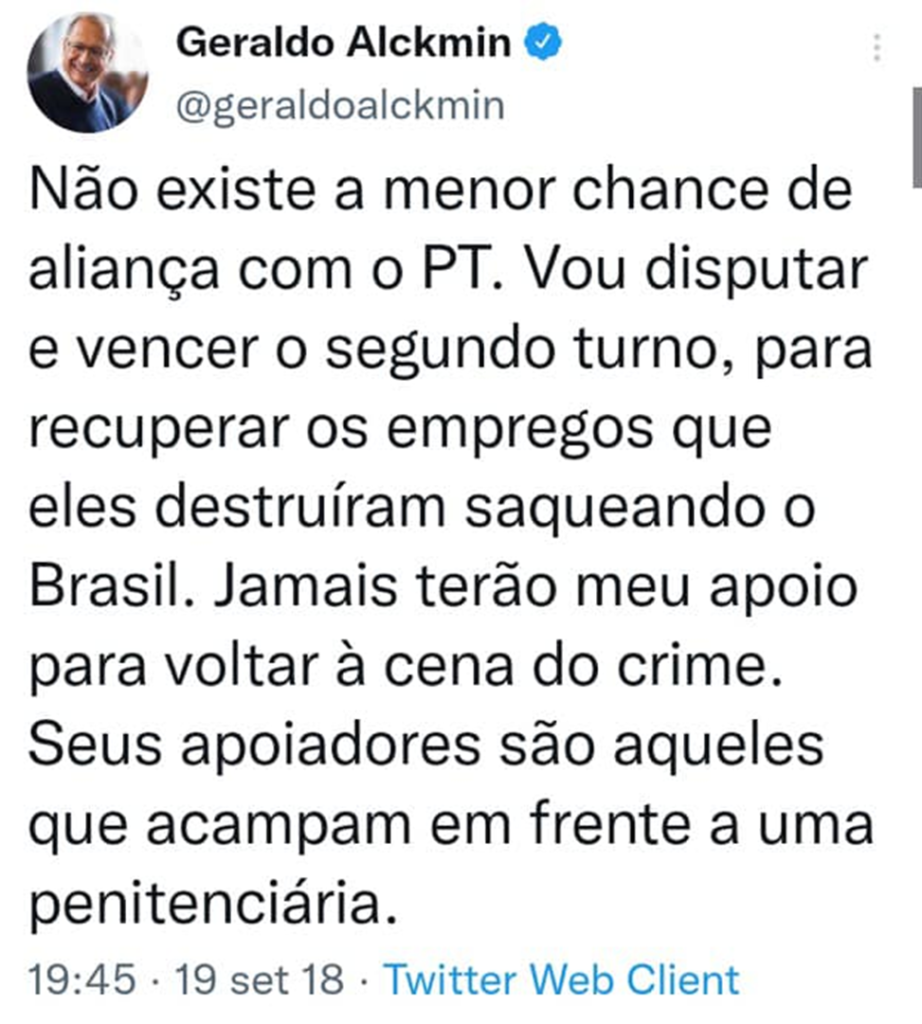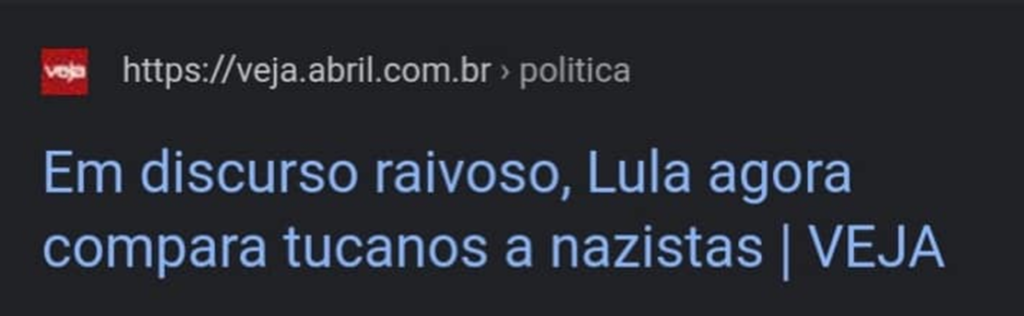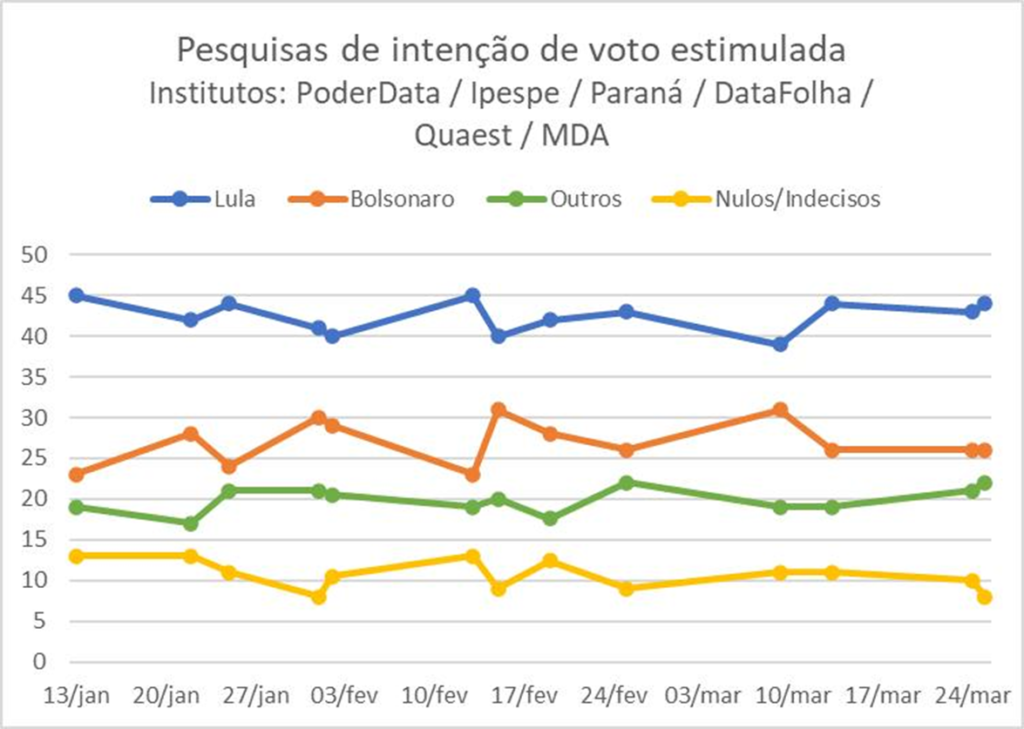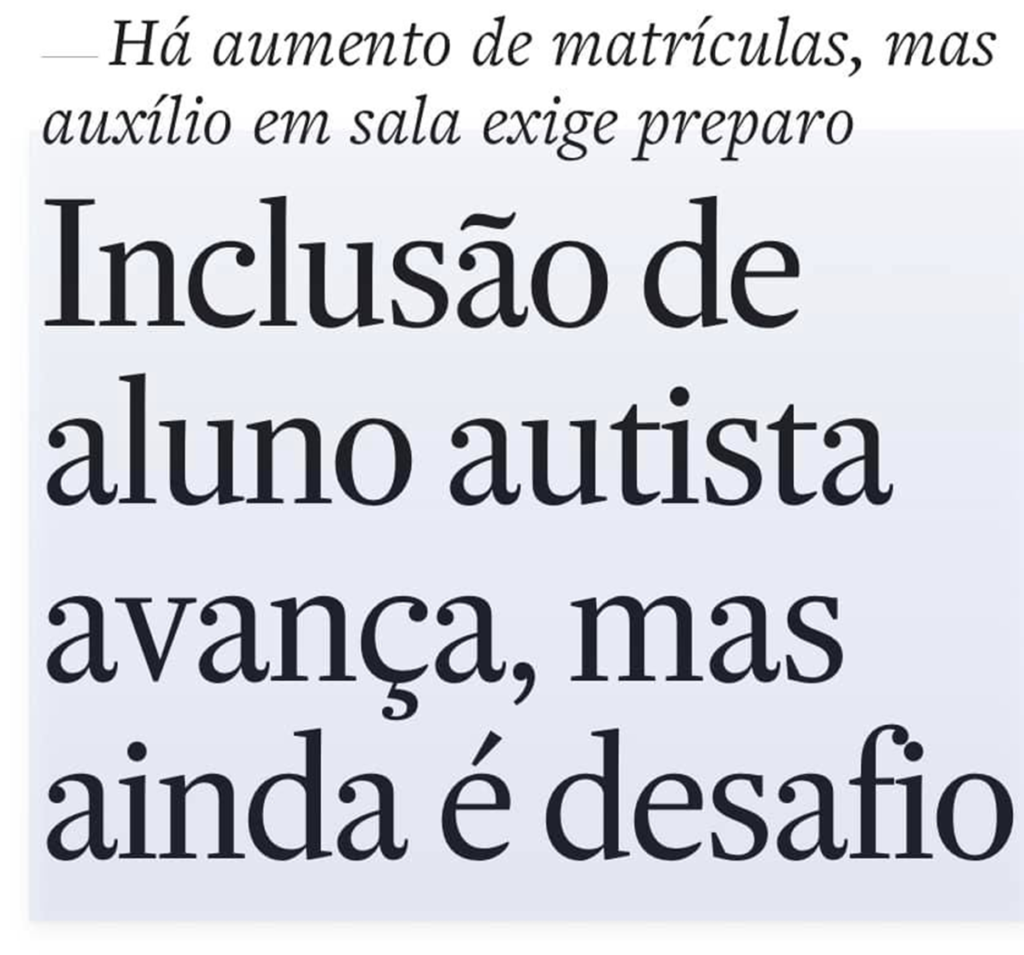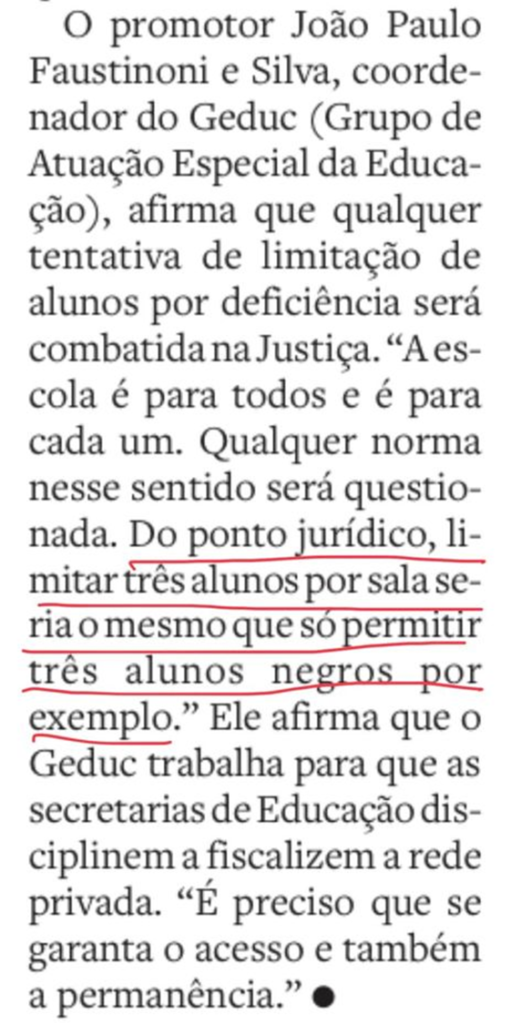Fernando Haddad e um outro economista ligado ao PT nos brindaram com um artigo na Folha de hoje defendendo o estabelecimento de uma moeda única da América do Sul. Pode parecer o Euro, mas, depois que se lê o artigo, é mais parecido com os SDRs (Special Drawing Rights), uma espécie de “moeda” do FMI, lastreada nas moedas dos seus países-membros mais ricos. O SDR serve como uma espécie de “unidade de conta” para facilitar transações do FMI. Os EUA, Zona do Euro, China, Japão e Reino Unido depositam uma quantia de suas próprias moedas para que o FMI faça as suas políticas. Por exemplo, recentemente o FMI fechou um novo pacote de ajuda para a Argentina no valor de 31,4 bilhões de SDRs, o que equivale a mais ou menos US$ 44 bilhões.
E para que serviria essa moeda sul-americana? Segundo os autores, “um projeto de integração que fortaleça a América do Sul, […] é capaz de conformar um bloco econômico com maior relevância na economia global e conferir maior liberdade ao desejo democrático, à definição do destino econômico dos participantes do bloco e à ampliação da soberania monetária”. Trocando em miúdos esse palavrório: uma moeda única faria a mágica de nos elevar à condição de superpotências econômicas, a ponto de termos liberdade de fazermos o que bem entendermos com nosso destino (“soberania monetária”).
Para entender este ponto, vale listar os diversos exemplos listados pelos autores, e que demonstram como países com moedas fracas são vulneráveis e como uma moeda forte permite ter margem de manobra:
• Os EUA e a Europa se valeram do poder de suas moedas para impor severas sanções contra a Rússia;
• Em 1979, os EUA elevaram os juros para “reafirmar o poder do dólar”, quebrando todos os países que tinham dívidas em dólar (na verdade, o Fed elevou as taxas de juros para combater a inflação);
• Em 2008, a força do dólar teria permitido ao Fed sustentar os preços no mercado financeiro;
• Durante os anos 90, sucessivas crises globais levaram diversos países latino-americanos a recorrer ao FMI, muitas vezes abrindo mão da soberania sobre suas políticas;
• Vários países recorreram à dolarização de suas economias, renunciando à sua soberania monetária.
A moeda única da América do Sul serviria, portanto, para fortalecer as economias da região, levando-as à “soberania monetária”.
Temos aqui o típico caso do rabo abanando o cachorro. Vou aqui copiar o parágrafo do artigo que é chave para entender o problema dessa ideia:
“A utilização do poder da moeda em âmbito internacional renova o debate sobre sua relação com a soberania e a capacidade de autodeterminação dos povos, em especial para países com moedas consideradas não conversíveis. Por não serem aceitas como meio de pagamento e reserva de valor no mercado internacional, seus gestores estão mais sujeitos às limitações impostas pela volatilidade do mercado financeiro internacional”.
Estou lendo neste momento o livro de Gustavo Franco, “A Moeda e a Lei”. Trata-se de um verdadeiro tratado sobre a moeda brasileira, sob o ponto de vista das diversas legislações que se sucederam ao longo da história. Fica claro, ao longo do livro, os graves problemas de governança da moeda nacional, e que acabaram por levar às várias reformas monetárias ao longo da história e à hiperinflação. A moeda brasileira sempre foi tratada como linha auxiliar dos grandes programas de fomento governamental, submetendo o orçamento público aos interesses privados de políticos e de setores econômicos, sem qualquer tipo de limitação. A moeda brasileira nunca foi respeitada pelos nossos representantes.
Voltando ao parágrafo destacado acima, o problema não é que os países da região tenham um déficit de soberania porque suas moedas sejam fracas. É justamente o oposto: as moedas são fracas porque os países da região abrem mão de sua soberania em favor de grupos privados. Ao não levar a sério as finanças públicas, esses países sabotam a própria moeda.
É interessante como não há, ao longo de todo o artigo, uma mísera menção à disciplina fiscal. O Euro só funciona porque a Alemanha, fanática pela disciplina fiscal, ancora a zona do Euro. Há regras duras que devem ser obedecidas por todos os seus membros, o tratado de Maastricht. Em sua pior crise, em 2011, vários países da zona do Euro ficaram ameaçados de sair da moeda única. A Grécia, o país em pior situação fiscal, teve que fazer um ajuste draconiano, cortando aposentadorias e outras despesas públicas para se enquadrar. Era isso ou sair. Os gregos, sob a liderança de um político de esquerda, escolheram a disciplina à hiperinflação que certamente se seguiria se escolhessem voltar ao dracma. Uma moeda estável tem seus custos, e não são pequenos.
A ideia de que uma moeda única seria capaz de “oferecer aos países as vantagens […] de uma moeda com maior liquidez, válida para relações com economias que, juntas, representam maior peso no mercado global” é o mesmo que acreditar que dois bêbados juntos fazem uma pessoa sóbria.
Claro que precisaríamos de uma espécie de “Câmara Sul-Americana de Compensação”, como chamam os autores do artigo ao esquema em que os países superavitários ajudariam os países deficitários. O duro é encontrar países superavitários na região. Oi Chile, já vai embora, fica mais um pouco, vamos conversar…
Enfim, a ideia por trás do SUR (o nome dado à essa moeda sul-americana) é uma espécie de pensamento mágico, em que a união monetária teria o condão de integrar a região e torná-la mais forte diante do mundo. Como brincou meu amigo Cleveland Prates, que me enviou esse artigo, resta saber se a sede do Banco Central da América do Sul ficaria em Buenos Aires ou Caracas.