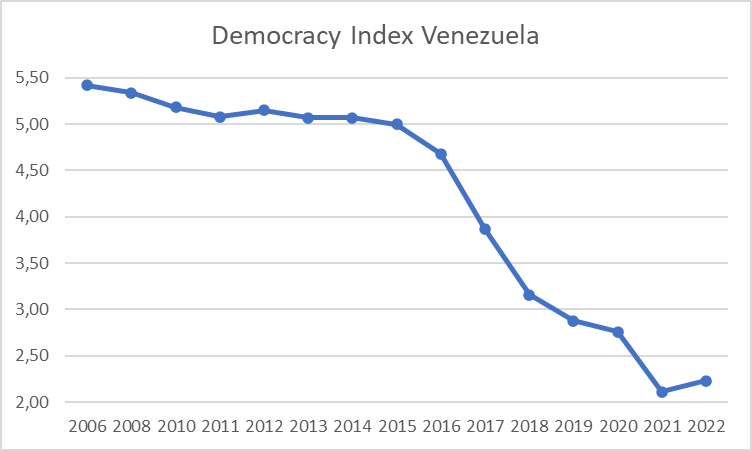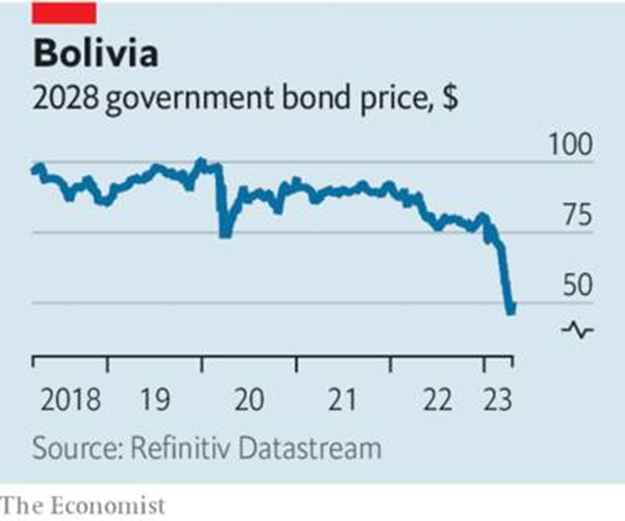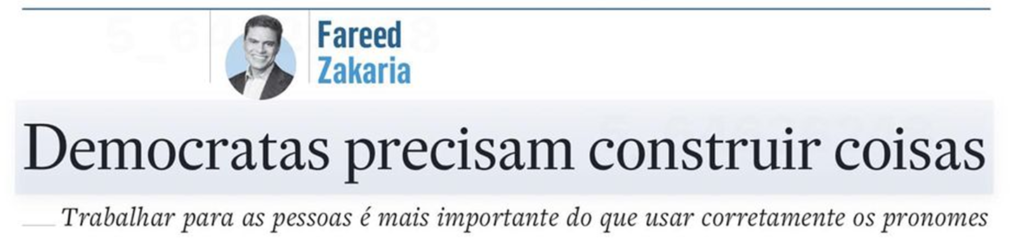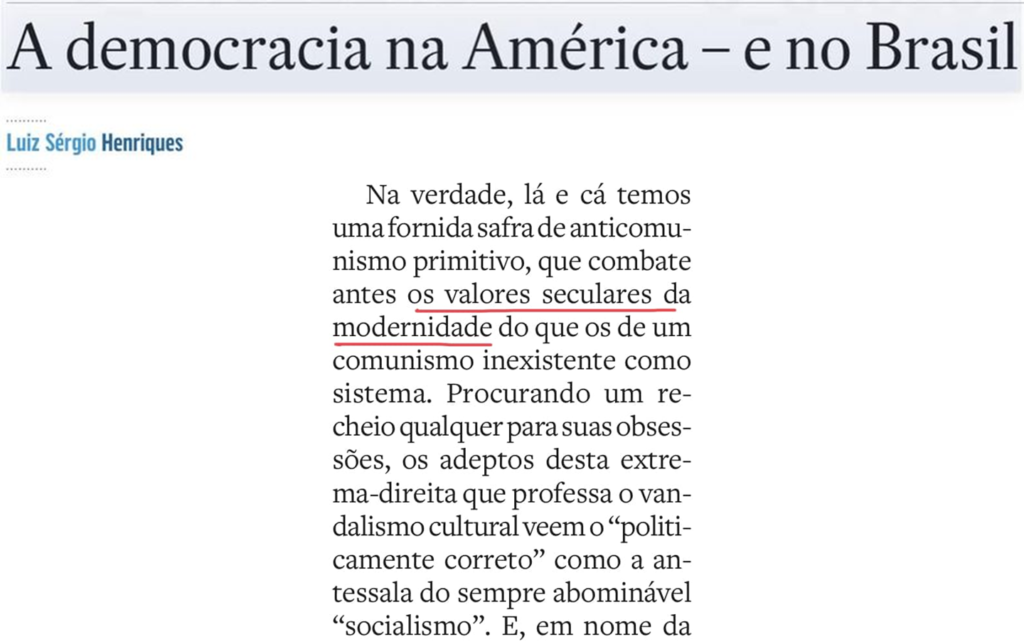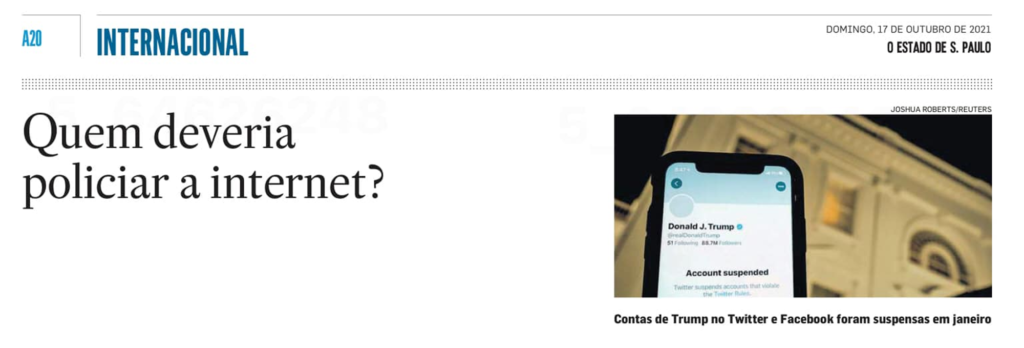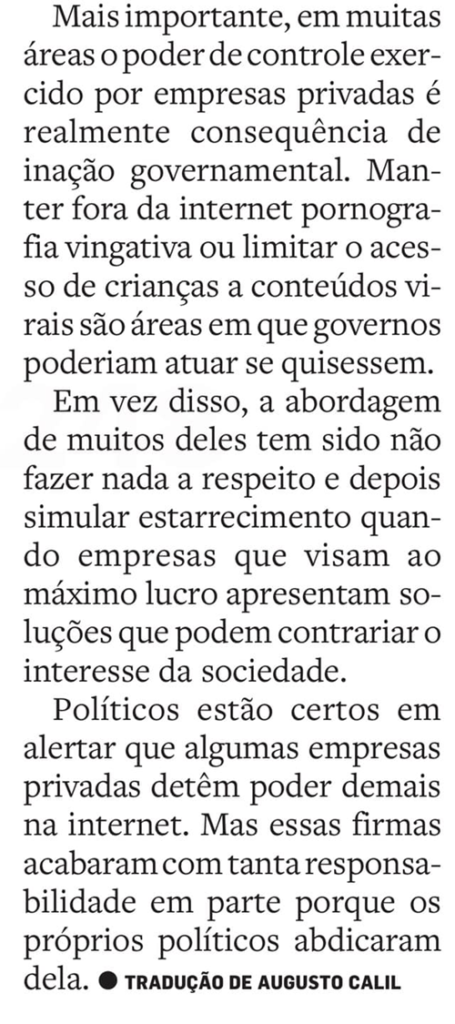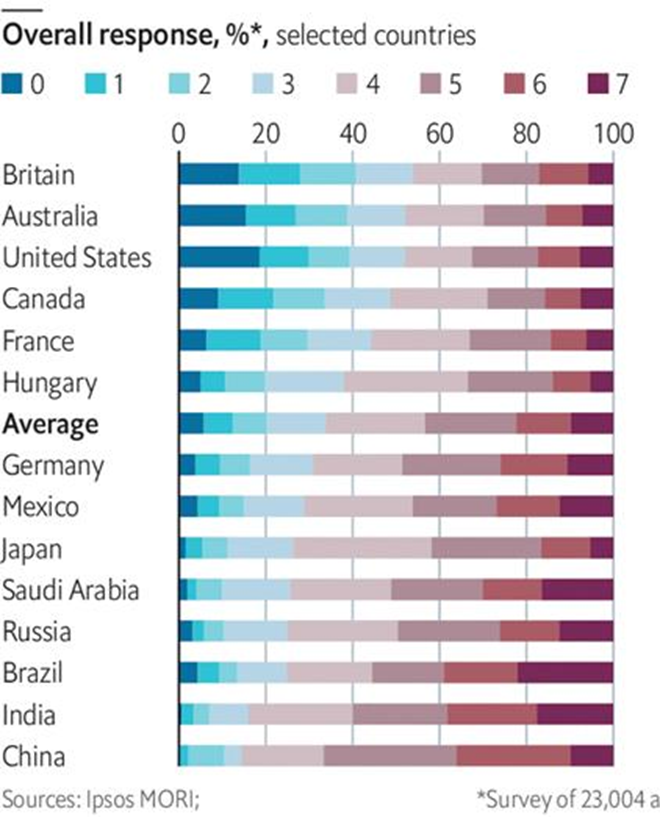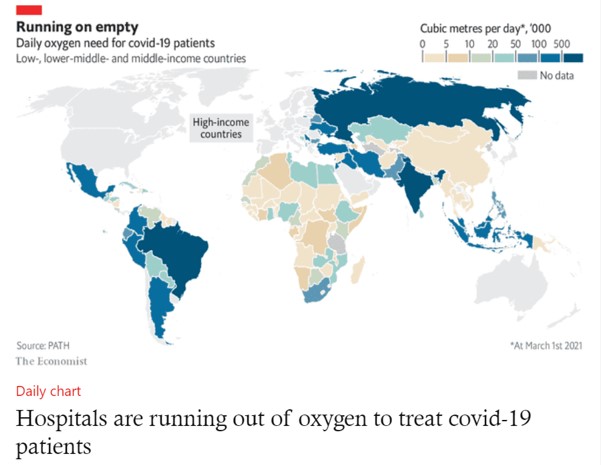Vou transcrever aqui uma tradução de um artigo da Economist publicado hoje, sobre as opções de Israel. É um pouco longo, mas vale a leitura de cada linha, para finalmente entender um pouco da política de Gaza/Cisjordânia e de como não há opções óbvias para Israel.
“As declarações públicas que Joe Biden fez durante a sua visita relâmpago a Israel em 18 de Outubro não sugeriram muitas dúvidas sobre a iminente invasão da Faixa de Gaza por Israel. Contudo, em privado, os conselheiros do presidente americano esperavam pressionar os líderes de Israel sobre uma questão urgente: o que deveria acontecer depois da guerra?
As autoridades israelenses dizem que estão concentradas em derrubar o Hamas do poder, em retribuição pelo massacre que cometeu no sul de Israel em 7 de Outubro. “Gaza não será mais uma ameaça para Israel”, afirma Eli Cohen, o ministro das Relações Exteriores. “Não concordaremos que o Hamas mantenha qualquer poder em Gaza.” Mesmo depois de os riscos de combate num local tão densamente povoado terem sido ilustrados por uma explosão mortal no dia 17 de Outubro no hospital Ahli Arab de Gaza, que Israel atribuiu a um foguete palestino sem direção, os objetivos de guerra declarados por Israel não mudaram.
Uma encruzilhada de quatro caminhos
Mas os planos pós-guerra de Israel permanecem incertos. Existem quatro opções principais, todas ruins. A primeira é uma ocupação prolongada de Gaza, como a que empreendeu entre 1967 e 2005. As tropas israelenses teriam de proteger o enclave e, na ausência de um governo palestino, poderiam ter também de supervisionar os serviços básicos.
Isto poderia agradar a um segmento da direita religiosa de Israel, que ainda se irrita com a retirada, em 2005, de todos os soldados e colonos israelenses de Gaza, interpretada como o abandono de uma fatia da pátria bíblica dos judeus. Mas ninguém mais quer ver Gaza reocupada, dados os pesados encargos financeiros e a probabilidade de uma interminável má reverberação na mídia e de um fluxo constante de mortes. Biden alertou em 15 de outubro que uma ocupação duradoura seria um “grande erro”. A maioria dos estrategistas israelenses concorda.
A segunda opção é travar uma guerra que decapite o Hamas e depois abandonar o território. Este é sem dúvida o pior caminho a seguir. Alguns dos líderes e apoiadores do Hamas provavelmente surgiriam para reconstituir o grupo. Mesmo que não o fizessem, alguma outra força indesejável tomaria o seu lugar. O Oriente Médio tem uma história de grupos radicais que aproveitam esses vácuos.
O melhor resultado, na perspectiva de Israel, seria o regresso da Autoridade Palestiniana (AP), que governa partes da Cisjordânia em coordenação com Israel. Mas esse caminho está repleto de obstáculos. A primeira é que Mahmoud Abbas, o presidente palestino, está relutante em fazê-lo. “Não creio que alguém possa ser tão estúpido e pensar que pode regressar a Gaza nas costas de um tanque israelense”, diz Ghassan al-Khatib, antigo ministro palestino.
Mesmo que Abbas pudesse tomar o poder dessa forma, talvez não o quisesse. Yasser Arafat, o anterior presidente da Autoridade Palestina e figura de longa data do nacionalismo palestino, gostava de Gaza; ele viveu lá durante algum tempo depois de ter sido autorizado a regressar à Palestina, em 1994. Pessoas próximas de Abbas dizem que ele, pelo contrário, vê Gaza como um lugar hostil.
É quase certo que Gaza seria hostil à polícia palestina enviada para protegê-la. A Autoridade Palestina emprega cerca de 60 mil pessoas nos seus serviços de segurança, que têm autoridade em cerca de um terço da Cisjordânia (ver mapa abaixo). Não consegue controlar nem mesmo essa área limitada: partes de Jenin e Nablus, cidades no norte da Cisjordânia, estão tão revoltadas que as forças da Autoridade Palestina não ousam patrulhá-las para não serem atacadas. O moral está baixo. Se a polícia palestina regressasse a Gaza, seria um alvo para os remanescentes do Hamas, da Jihad Islâmica e de outros militantes. O Hamas e a Autoridade Palestina travaram uma guerra civil sangrenta em Gaza depois que o Hamas venceu as eleições parlamentares em 2006. O Hamas acabou vencendo e expulsou a Autoridade Palestina do território em 2007.

A segurança também não é a única questão. Depois que o Hamas chegou ao poder, Abbas pediu aos burocratas em Gaza que parassem de trabalhar. O Hamas, por sua vez, contratou dezenas de milhares de apoiadores para ocuparem funções públicas, enquanto a Autoridade Palestina continuou a pagar aos seus trabalhadores para ficarem em casa. Manter essa burocracia significaria trabalhar com cerca de 40 mil pessoas contratadas pela sua lealdade ideológica ao Hamas; rejeitá-los seria repetir o erro do programa de “desbaathificação” dos Estados Unidos no Iraque, que lançou legiões de homens furiosos e desempregados nas ruas.
Uma quarta opção seria montar algum tipo de administração alternativa, composta por notáveis locais trabalhando em estreita colaboração com Israel e o Egipto. Israel confiou nesse tipo de acordo até a década de 1990, antes de a Autoridade Palestina começar a assumir funções civis nos territórios ocupados.
Tem-se falado em tentar recrutar Muhammad Dahlan, um antigo chefe de segurança do Paquistão que cresceu em Gaza, para assumir as rédeas depois do Hamas. Mas Dahlan passou a última década em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Ele se desentendeu com a AP; em 2016, um tribunal palestino condenou-o por corrupção. Também há desavença entre ele e as famílias em Gaza: ele liderou a luta contra o Hamas em 2007. “Acho que isso é uma ilusão”, diz Michael Milstein, coronel da reserva do exército israelense e analista do Centro Moshe Dayan, um think tank em Tel Aviv. “Eu nem tenho certeza se ele gostaria de voltar. Ele ficaria preocupado que as pessoas o quisessem morto.”
O caso de Dahlan aponta para um problema maior. Os palestinos estão divididos há quase duas décadas. A divisão é em grande parte culpa deles: embora os líderes do Hamas e da Autoridade Palestina se reúnam a cada dois anos para defender a reconciliação da boca para fora, nenhuma das partes quer chegar a um acordo. Mas o cisma também foi exacerbado pela política de dividir para governar de Binyamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, que a considerou uma ferramenta útil para frustrar o sonho palestino de um Estado independente. “Netanyahu tinha uma estratégia ruim de manter o Hamas vivo e forte”, diz Ehud Barak, antigo primeiro-ministro israelense.
Tanto o Hamas como a AP governam os seus estados como regimes autoritários de partido único. Em 2021, Nizar Banat, um crítico de Abbas, foi espancado até à morte pela polícia palestina na sua casa em Hebron. Aqueles que se opõem ao Hamas em Gaza correm o risco de tortura e execução. A maioria dos palestinos opta por manter o silêncio, evitando a política e concentrando-se nas suas lutas quotidianas.
A sondagem mais recente do Centro Palestino de Estudos Políticos e Pesquisas (PCPSR) concluiu que 65% dos habitantes de Gaza votariam em Ismail Haniyeh, o líder do Hamas, numa corrida presidencial frente a frente contra Abbas (que perderia o Cisjordânia também). O Hamas obteria 44% dos votos em Gaza numa votação parlamentar, enquanto o Fatah, a facção de Abbas, obteria apenas 28%.
Entre a cruz e a espada
À primeira vista, isto sugeriria um apoio duradouro ao Hamas. Mas essas sondagens oferecem apenas uma escolha binária entre militantes e incompetentes. Um total de 80% dos palestinos querem a demissão de Abbas. Horas depois da explosão do hospital, ocorreram protestos em cidades da Cisjordânia, onde os manifestantes gritavam: “O povo exige a queda do presidente”. Ele tem 87 anos e não tem um sucessor claro. Nenhum de seus possíveis substitutos inspira muito entusiasmo.
Numa hipotética corrida entre Haniyeh e Muhammad Shtayyeh, o insípido primeiro-ministro da Palestina, o primeiro venceria por uma margem de 45 pontos em Gaza e 21 pontos na Cisjordânia. Mais uma vez, isto é menos uma prova da popularidade de Haniyeh do que da falta de popularidade de Shtayyeh: uma sondagem realizada em 2019, após os seus primeiros 100 dias no cargo, revelou que 53% dos palestinos nem sequer sabiam que ele era o primeiro-ministro.
Perguntas abertas produzem resultados mais reveladores. Quando o PCPSR pediu aos palestinos que nomeassem o seu sucessor preferido para Abbas, a maioria disse que não sabia. A segunda resposta mais popular, tanto na Cisjordânia como em Gaza, foi Marwan Barghouti, um membro da Fatah que cumpre múltiplas penas de prisão perpétua numa prisão israelense por orquestrar ataques terroristas que vitimou civis. Várias das outras principais escolhas, como Dahlan e Khaled Meshal, antigo líder do Hamas, nem sequer vivem nos territórios palestinos.
Exilados, prisioneiros – ou ninguém: a vida política palestina está moribunda. Os palestinos culpam Israel por esta situação lamentável, argumentando que a falta de conversações de paz significativas privou a Palestina da sua razão de ser. “Acho que Abbas será o último presidente palestino”, diz Khatib. “Toda a ideia da Autoridade Palestiniana é que se trata de uma transição para um Estado palestino. Se não houver horizonte político, a AP se torna irrelevante.”
Os israelitas afirmam que a AP se auto minou através da corrupção desenfreada. Bilhões de dólares em ajuda externa foram desviados ao longo das últimas três décadas para comprar vilas luxuosas na Jordânia e para encher contas bancárias na Europa. Solicitados a nomear os principais problemas da sociedade palestina, mais pessoas citam a corrupção do seu próprio governo (25%) do que a ocupação de Israel (19%).
Há culpas em número suficiente para compartilhar. O resultado, porém, é que a Fatah é provavelmente irredimível aos olhos da maioria dos palestinos, um movimento de libertação que se tornou caucificado e decadente. Nos últimos anos, até mesmo alguns israelenses começaram a questionar-se se o Hamas poderia tornar-se um interlocutor, seguindo o mesmo caminho que o Fatah fez décadas antes, de militantes violentos a burocratas dóceis.
Não só o Hamas parecia concentrado em tentar melhorar a economia de Gaza, como alguns dos seus líderes também pareciam receptivos a uma solução de dois Estados. Isso teria sido uma mudança notável para um grupo cuja carta apelava à destruição de Israel. No ano passado, Bassem Naim, membro da liderança política do grupo em Gaza, disse a um correspondente que estava disposto a aceitar “um Estado nas fronteiras de 1967”. Ghazi Hamad, outra autoridade política, havia dito a mesma coisa um ano antes.
Tais pensamentos agora parecem ingênuos. Milstein foi um dos poucos israelenses proeminentes que alertou, muito antes do massacre, que o aparente pragmatismo do Hamas era apenas um estratagema. A sua opinião, justificada pelos últimos acontecimentos, é agora quase universal em Israel. Mesmo que o Hamas estivesse disposto a participar nas conversações de paz, um público israelense furioso e enlutado não seria um parceiro disposto: a grande maioria dos israelenses quer destruir o Hamas e não recompensá-lo.
Duas outras questões moldarão o futuro de Gaza. Uma delas é o papel que os estados árabes irão desempenhar. Em conversas privadas durante a semana passada, várias autoridades árabes apresentaram a ideia de uma força estrangeira de manutenção da paz para o enclave – mas a maioria rapidamente acrescentou que o seu país não estava ansioso por participar.
O Egito não é popular em Gaza, tanto porque se juntou a Israel no bloqueio do território, como devido à sua história anterior como governante de Gaza de 1948 a 1967. Os Emirados Árabes hesitariam em desempenhar um grande papel. “Não agimos sozinhos”, diz um diplomata dos Emirados. O mesmo provavelmente se aplica à Arábia Saudita.
Israel provavelmente vetaria qualquer papel do Qatar, um dos países com maior influência em Gaza. Durante anos, o emirado ajudou a estabilizar a economia de Gaza com a bênção de Israel, distribuindo até 30 milhões de dólares por mês em pagamentos de assistência social, salários de funcionários públicos e combustível gratuito. Mas o seu apoio ao Hamas – alguns dos líderes do grupo vivem lá – irá agora torná-lo suspeito. “Toda a estratégia de Israel durante a última década foi confiar no Qatar”, diz Milstein. “Uma das lições que deveríamos aprender com esta guerra é que não deveríamos permitir mais envolvimento do Catar.”
Embora os estados árabes não queiram proteger Gaza, podem estar dispostos a ajudar a reconstruí-la. Após a última grande guerra, em 2014, os doadores prometeram 3,5 bilhões de dólares para a reconstrução (embora, no final de 2016, tivessem desembolsado apenas 51% desse montante). A conta será ainda maior desta vez.
A outra questão é o que acontecerá com a AP. As pesquisas dizem que metade dos palestinos acham que deveria ser dissolvida. Fazer isso privaria muitos deles de rendimento (a Autoridade Palestina é o maior empregador na Cisjordânia) e provavelmente levaria a mais violência. Mas também aumentaria os custos da ocupação de Israel e, talvez, forçasse o regresso questão Palestina à agenda política de Israel, depois de duas décadas em que o assunto raramente foi discutido. “É a única carta na manga que lhe resta”, diz um antigo confidente de Abbas.
Não existe uma solução duradoura apenas para Gaza. Apesar do longo cisma, os palestinos ainda se consideram parte de um sistema político mais amplo. De qualquer forma, a faixa é demasiado pequena e desprovida de recursos naturais para prosperar por si só. A sua economia depende de Israel: tudo, desde as plantações de morangos às fábricas de móveis, depende das exportações para o seu vizinho mais rico. Independentemente de quem assuma o controlo, Gaza não será nem estável nem próspera como um pequeno Estado isolado.
A única forma de trazer tranquilidade duradoura a Gaza é através de uma resolução mais ampla do conflito israelense-palestino. Se a perspectiva de uma solução negociada se evaporar completamente, alerta Khatib, “com ela, a liderança moderada desaparecerá”. Israel pode até decapitar o Hamas. Mas é muito menos claro que algo melhor tomará o seu lugar.”