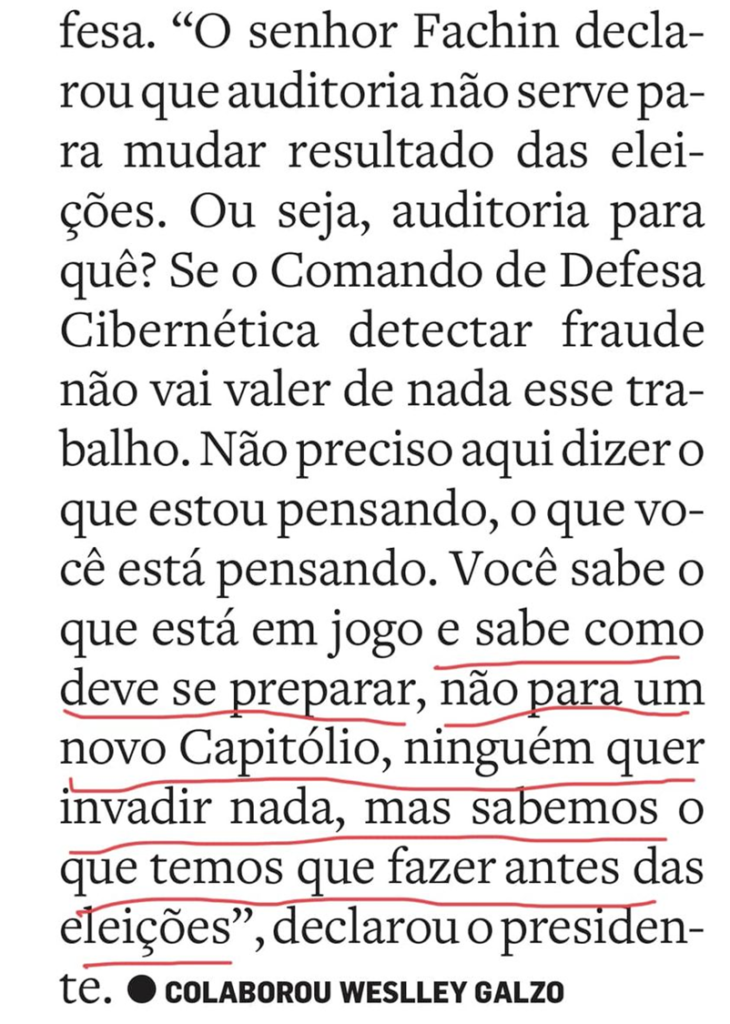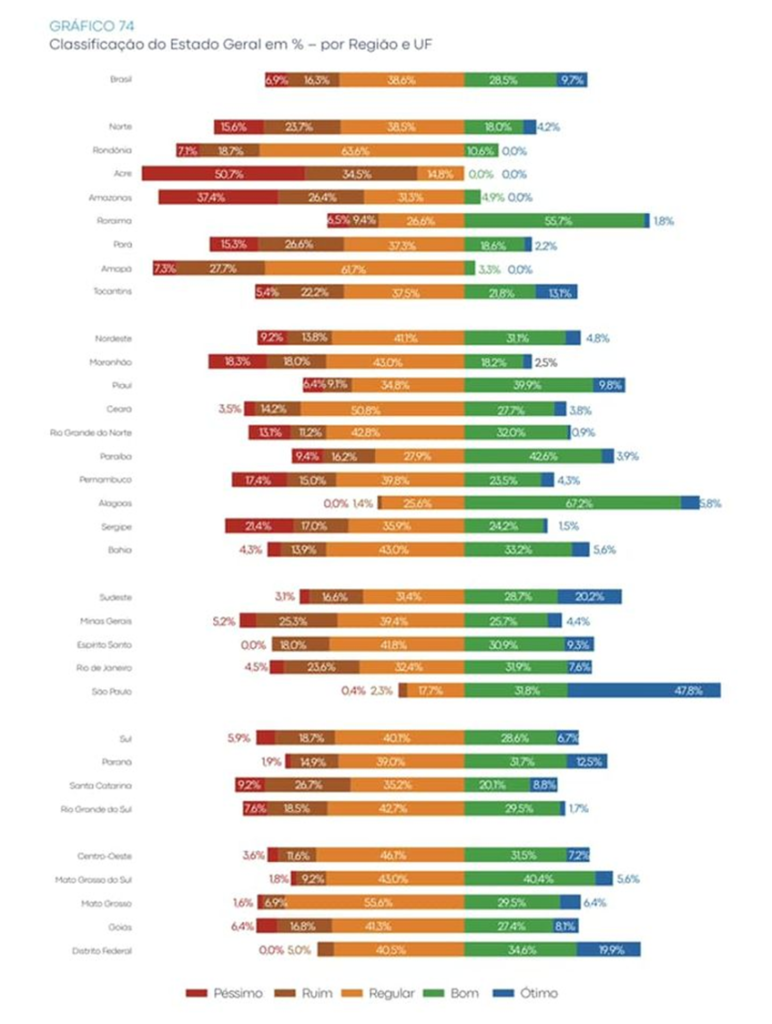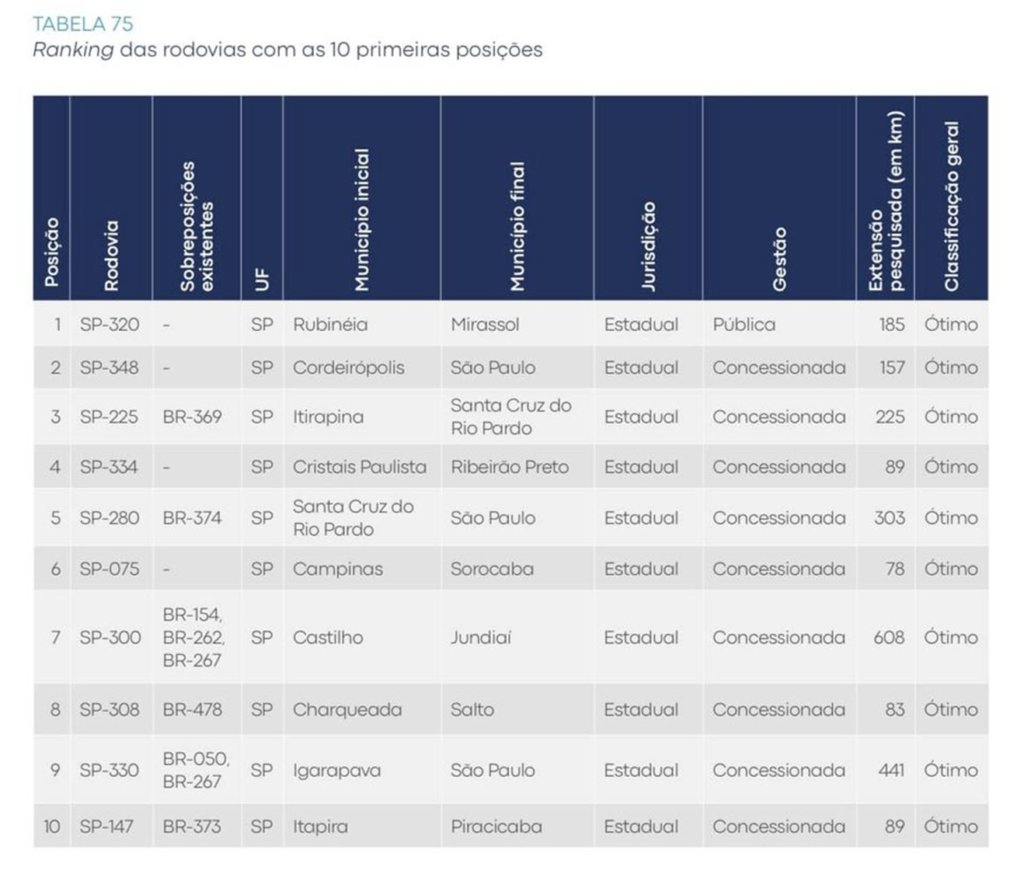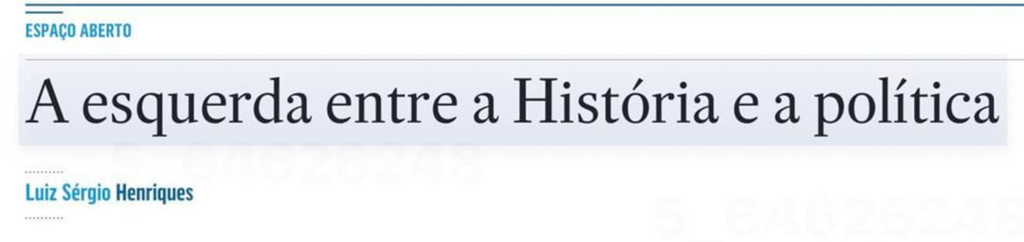Já escrevi aqui algumas vezes sobre urnas eletrônicas e higidez do sistema de apuração de votos. Inclusive, escrevi um longo artigo a respeito, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista institucional (Teoria da Conspiração e Eleições). Portanto, não vou gastar o tempo de ninguém discutindo mais essa proposta do Ministério da Defesa para “garantir” a segurança da votação, a de ter votação paralela em papel na seção eleitoral.
O objetivo desse post é tentar transmitir aos bolsonaristas de carteirinha o ânimo que toma conta de alguns eleitores que, como eu, são antipetistas e votaram em Bolsonaro em 2018, quando leem notícias como essa. Não tenho a pretensão de representar ninguém, só represento o meu voto. Mas talvez o meu voto seja representativo do de uma parcela da população.
Obviamente, ganha a eleição quem tem mais votos. Portanto, quanto mais votos, melhor. Bolsonaro, no entanto, afasta eleitores antipetistas com quem poderia contar, ao insistir nessa história de “fraude eleitoral”. Essa história talvez seja a cereja de um bolo que demonstra a incapacidade do atual presidente de exercer o cargo para o qual foi eleito. Não dá para ter um paranoico como presidente da República.
Para se dar ao luxo de afastar votos, das duas uma: ou Bolsonaro está convencido de que já tem votos suficientes para ganhar a eleição e somente uma fraude o afastaria da reeleição, ou está convencido de que já perdeu a eleição, e quer tumultuar para tentar uma virada de mesa. Somente uma dessas duas hipóteses justifica a sua insistência no tema, que claramente aumenta a sua rejeição em uma parcela do eleitorado que, de outra maneira, estaria disposta a sufragá-lo.
Veja, antes de gastar o seu tempo tecendo longos comentários sobre a insegurança do sistema de votação ou sobre a parcialidade do TSE, note que a questão não é essa. A questão é de percepção. Da minha única e particular percepção. Votar em Lula eu não voto. Por outro lado, com esse tipo de atitude, Bolsonaro torna mais difícil meu voto. Depois, não adianta demonizar o voto nulo. Busquem o culpado da eleição de Lula nessa incrível capacidade do presidente de encher o seu próprio pé de bala.