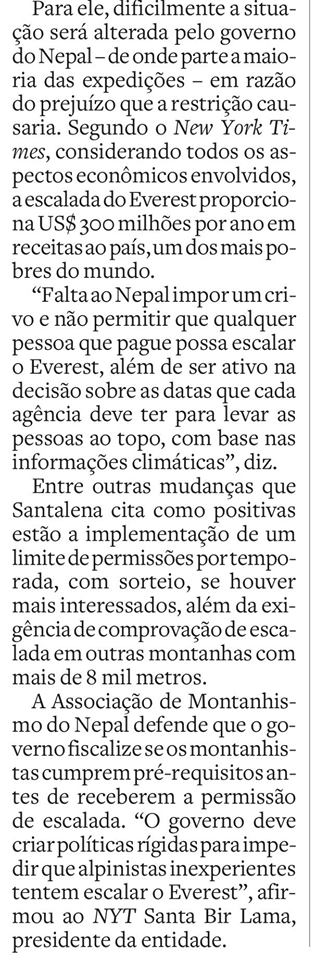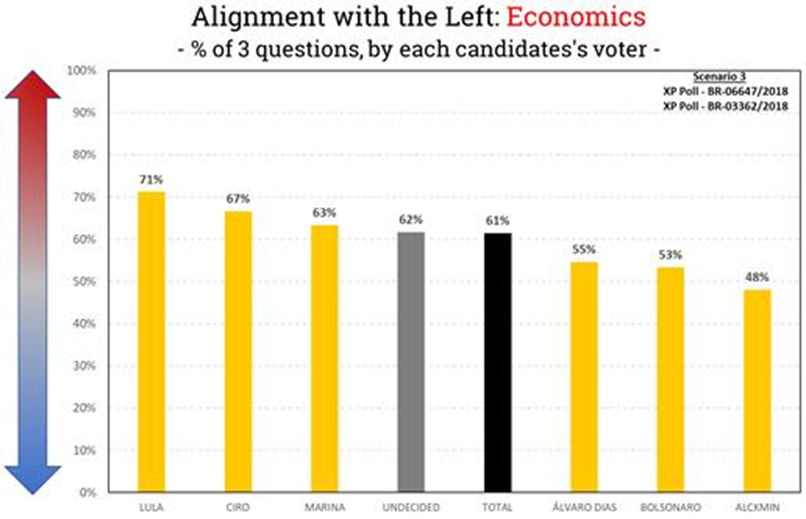As grandes linhas de pensamento econômico se definem pelo papel que dão ao Estado na economia. O Estado é a forma que os seres humanos encontraram para resolver os seus problemas comuns. Trata-se de uma instância superior, com poderes especiais, exercidos por pessoas que chegam ao poder de acordo com regras estabelecidas de comum acordo ou através da força bruta. As relações econômicas entre os seres humanos são dos maiores problemas a que o Estado é chamado a intervir.
Neste continuum da ação do Estado na economia, costumo identificar quatro pontos de referência, ilustrados pela figura abaixo:

Marx previu que a centralização de tudo no Estado seria um estágio intermediário necessário para que o proletariado finalmente tomasse o poder. Uma vez que todos os meios de produção pertencessem ao Estado, este, em determinado momento, não seria mais necessário, pois o Estado nada mais era do que a encarnação do proletariado. O que se viu é que nunca se passou para a fase seguinte do jogo.
Isto nos leva ao outro extremo, o Anarquismo. Etimologicamente, anarquia significa ausência de hierarquia, ou de governo. Como disse Bakunin, um dos principais pensadores anarquistas, “quem diz Estado, diz necessariamente dominação e, em consequência, escravidão; um Estado sem escravidão, declarada ou disfarçada, é inconcebível; eis porque somos inimigos do Estado”. Mas, como em tudo na vida, os extremos se tocam. Os anarquistas estiveram associados aos principais movimentos sindicais do início do século XX, lado a lado com os comunistas, propondo o fim do capitalismo como solução para a exploração do homem pelo homem. No Estado capitalista, uma minoria usa os instrumentos de poder para oprimir a maioria. Para comunistas e anarquistas, o problema está no Estado. Ambos propõem o fim do Estado, mas somente os comunistas têm um roadmap que lhes permite tomar o poder. Como vimos, o plano comunista de eliminar o Estado não foi em frente, muito pelo contrário. No caso do anarquismo, como eliminar o Estado completamente não é em si um plano factível, nunca se constituíram em uma força política relevante.
O que nos interessa, pelas suas consequências práticas, é o que vai no meio. Temos duas formas intermediárias de intervenção do Estado no domínio econômico: o Nivelamento e a Coordenação.
No Nivelamento, o Estado serve apenas para nivelar o campo de jogo entre os diversos agentes da sociedade. Temos duas dimensões deste nivelamento:
- Leis e enforcement da lei (força policial e sistema judiciário), que permitem que os agentes econômicos possam ter segurança sobre quais são as regras do jogo, e que essas regras serão obedecidas por todos.
- Mitigação do gap de renda, de modo que as pessoas que tiveram azar de nascer em famílias desfavorecidas economicamente, têm no Estado um suporte para preencher este gap em relação aos nascidos em famílias mais favorecidas. Este suporte se traduz em educação, saúde, saneamento básico, enfim, investimentos na capacitação do capital humano. Estão nesta categoria as diversas bolsas-auxílio, que colocam dinheiro no bolso dos mais pobres.
Por fim, a Coordenação. Neste ponto, ao Estado se lhe confere o poder de coordenar os agentes privados, de acordo com planos concebidos com a técnica mais apurada. Não se trata de centralização, os meios de produção são privados, mas a atuação dos agentes privados é condicionada e dirigida por regras discricionárias do Estado.
Com a queda dos principais regimes comunistas no início da década de 90, sobraram poucos exemplos de Estados puramente centralizados. Talvez Coreia do Norte. Até Cuba permitiu a existência de empresas privadas, ainda que de maneira bastante controlada. Então, a maior parte dos regimes econômicos do mundo, hoje, oscila entre o modelo de Coordenação e o modelo de Nivelamento, com algumas pitadas de Centralização, como a China.
Para quem quer ter uma noção histórica sobre as idas e vindas entre os modelos de Coordenação e Nivelamento, sugiro o excelente livro Keynes vs. Hayek, que conta a história de dois dos economistas mais influentes do século XX.
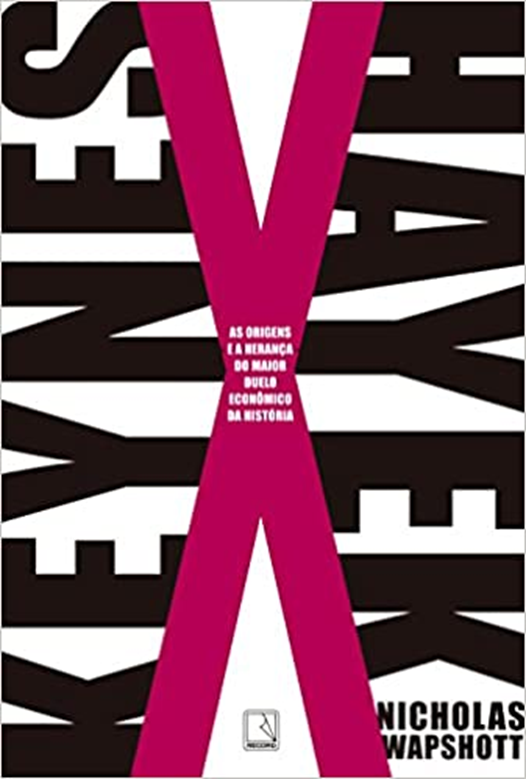
Keynes é o papa da intervenção estatal na economia, enquanto Hayek defendia a soberania das decisões individuais e empresariais de investimento e consumo como a única forma de criar riqueza permanente.
Keynes foi o criador da macroeconomia, ou seja, a explicação do comportamento dos grandes agregados monetários, do câmbio, da taxa de juros, enfim, de tudo o que afeta a economia de um país de maneira global. O economista inglês formula suas teorias olhando o mundo desde cima, do ponto de vista do Estado. Por isso, é o Estado que tem a chave do crescimento e da estabilidade econômica.
Keynes foi um crítico acerbo das penalizações à Alemanha após a 1ª Guerra Mundial, e o Plano Marshall, que permitiu a reconstrução da Europa após a 2ª Guerra, deve muito à sua pregação em favor do investimento estatal. Apesar de o New Deal de Roosevelt ter se dado em linha com as teorias de Keynes, foi nos 30 anos após a 2ª Guerra que o keynesianismo atingiu seu apogeu. O papel do Estado era inquestionável, com montanhas de recursos estatais sendo investidos em infraestrutura e na corrida espacial. Até congelamento de preços houve, nos estertores desse ciclo, com Nixon.
Com a grande estagflação da década de 70, o keynesianismo cai em desgraça, dando lugar a Hayek e seus discípulos, sendo o mais famoso Milton Friedman.
Hayek analisava a economia do ponto de vista das decisões das pessoas e das empresas. É o que chamamos de microeconomia. Seu ponto de vista é de baixo para cima, sendo o Estado apenas um mal necessário. Suas teorias eram extremamente obscuras, não contando com o charme das grandes explicações macroeconômicas de Keynes. Hayek ficou famoso não pelas suas teorias econômicas, mas por conta de um livrinho mais sociológico do que econômico, O Caminho da Servidão, em que desfia o seu ceticismo com relação ao dirigismo econômico, que inexoravelmente resultaria no fim da liberdade do indivíduo.
Keynes e Hayek representam o eterno debate sobre o papel do Estado na economia. Eu me coloco do lado daqueles que defendem que o Estado tem um papel a cumprir no Nivelamento de oportunidades, mas não na Coordenação dos agentes econômicos.
O falso debate
Uma das formas de se ganhar um debate é imputar ao seu adversário uma tese absurda, contrapor esta tese e dizer que ganhou a discussão.
Este artifício é muito comum no debate sobre o papel do Estado na economia. Por exemplo, costuma-se apontar para uma favela e dizer que aquilo é o resultado de um Estado mínimo. Aquela situação teria sido criada pela ausência do Estado, não pelo seu excesso. Outro exemplo: as grandes crises econômicas e financeiras. Acusa-se os que defendem um Estado mínimo de que sua convicção só vai até a página 2. Quando ocorre uma crise, todos saem correndo a pedir penico ao papai Estado.
Por que este é um falso debate? Por que defender um determinado papel para o Estado não significa defender a ausência do Estado. Pelo contrário.
No primeiro exemplo, a ausência do Estado que cria a favela tem sua origem justamente no foco errado do papel do Estado. Enquanto se perde em políticas de coordenação da atividade econômica, as ações de nivelamento de oportunidades são fracas. Aliás, as políticas de coordenação, que normalmente são sequestradas pelos mais ricos, drenam os recursos escassos do Estado, sobrando pouco para as políticas de nivelamento. Veremos mais sobre isso quando abordarmos o caso específico do Brasil.
No caso da atuação dos governos nas grandes crises econômicas, não cabe reparo, ainda que sua intensidade possa ser discutida. Aqui estamos falando da suavização dos ciclos econômicos típicos da economia capitalista. A atuação dos Bancos Centrais e, em casos extremos, a edição de pacotes fiscais, servem para minimizar a dor das oscilações econômicas. Ainda que se possa argumentar que esta não seja a forma ótima de fomentar o crescimento econômico (afinal, ao suavizar o ciclo, o Estado está prolongando a vida de negócios pouco produtivos), não é viável politicamente deixar que recessões se aprofundem sem limites. Então, a intervenção do Estado nos ciclos econômicos talvez seja o único caso em que algum nível de coordenação se justifique. No entanto, usar esse caso particular para justificar a coordenação estatal de toda atividade econômica vai uma distância galáctica.
O Brasil neste debate
No momento em que escrevo este artigo, está sendo debatido no Congresso a extensão da isenção da contribuição patronal para o INSS de 17 setores econômicos escolhidos. A ideia é fomentar empregos, na medida em que esses 17 setores englobam as empresas que supostamente mais empregam no país.
Esta isenção é um exemplo perfeito do Estado como coordenador da atividade econômica. Discricionariamente, o Estado escolheu 17 setores econômicos, e os brindou com uma isenção de impostos. Por que não 10 setores? Ou 30? Será este o melhor uso possível para o uso dos recursos escassos do Estado? Não haveria outras formas menos onerosas de criar empregos?
Temos um fetiche pelo Estado coordenador. São inúmeras as políticas discricionárias que beneficiam setores e corporações que têm melhor trânsito em Brasília. Em artigo recente na Folha de São Paulo, o economista Marcos Mendes lista, além da isenção da folha de pagamentos, outras 5 políticas governamentais que elegem vencedores às custas do restante da sociedade: a inclusão dos caminhoneiros no regime MEI, o próprio regime MEI (apenas 16% dos participantes estão entre os 50% mais pobres), a Zona Franca de Manaus, o Rota 2030 e o programa Renovabio.
Poderíamos ficar aqui horas citando programas, regimes especiais, subsídios, enfim, instrumentos do Estado para coordenar a atividade econômica. O Brasil inclina-se firmemente para a Coordenação, com certas pitadas de Centralização. A maior empresa brasileira é uma estatal e, dos 5 maiores bancos, dois são estatais. Até pouco tempo atrás, era um banco estatal que dominava o mercado de capitais e os maiores fundos de pensão são ligados a empresas estatais.
Dá-se pouco peso para o Nivelamento: a educação pública é, de maneira geral, de qualidade sofrível, idem o atendimento de saúde e o saneamento básico. A exceção é o ensino superior público, de excelente qualidade, mas que atende principalmente aos filhos da classe média, contribuindo ainda mais para a concentração de renda. As cotas sociais são uma tentativa de desentortar o pepino depois de crescido. As várias bolsas-auxílio pagas para os mais pobres (um esforço de nivelamento) são uma fração do que é gasto com os esforços de coordenação via regimes especiais e subsídios.
A Coordenação pressupõe um Estado que consegue fazer uma leitura perfeita das consequências de todos os seus atos sobre a atividade dos agentes econômicos. Além disso, é necessária uma impessoalidade que, na prática, é impossível de alcançar. As bancadas no Congresso defendem seus interesses próprios antes do que os interesses da sociedade, sequestrando os recursos escassos do Estado em seu favor. Mesmo esforços meritórios de Nivelamento, como o investimento em educação ou no sistema de justiça, são muitas vezes sequestrados pelas corporações dos funcionários públicos, de forma que a eficiência do gasto fica muito aquém daquilo que poderia ser caso houvesse real interesse em mitigar os efeitos da desigualdade de oportunidades.
O que precisamos fazer?
O Brasil entrou de cabeça na armadilha da renda média, buraco em que se enfiam países que não conseguem aumentar a sua produtividade a partir de um determinado ponto, sequestrados que se encontram pelo capitalismo de laços e pelas diversas corporações que se apoderam do Estado.
O próximo presidente da República (sim, é sempre o próximo) deveria focar em políticas de Nivelamento, reduzindo as políticas de Coordenação. Ao facilitar horizontalmente a vida de todas as empresas e não somente de algumas escolhidas, a própria dinâmica econômica se encarregará de escolher as vencedoras. E, ao proporcionar oportunidades iguais para indivíduos de origens diferentes, a meritocracia terá uma base saudável para que os melhores contribuam para o aumento da produtividade da economia.
Somente assim conseguiremos acumular o capital humano e o capital físico necessários para dar o salto de produtividade que nos permitirá atingir o próximo estágio de crescimento econômico e de renda per capita.