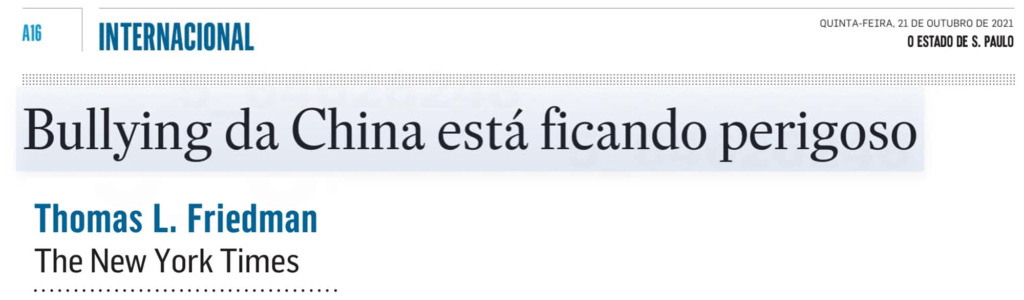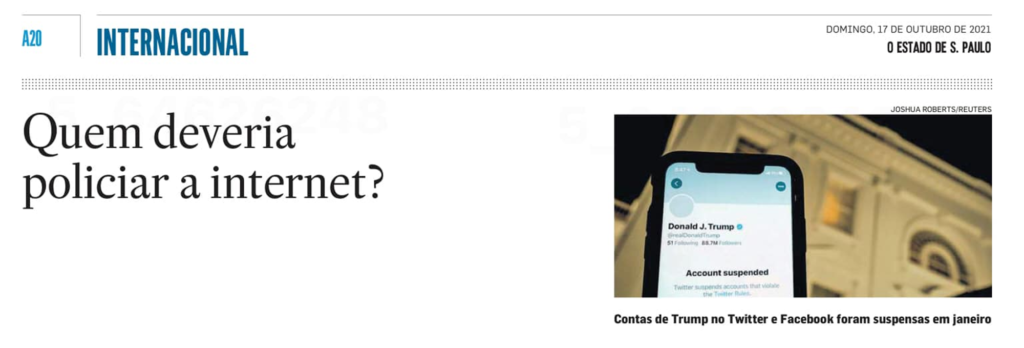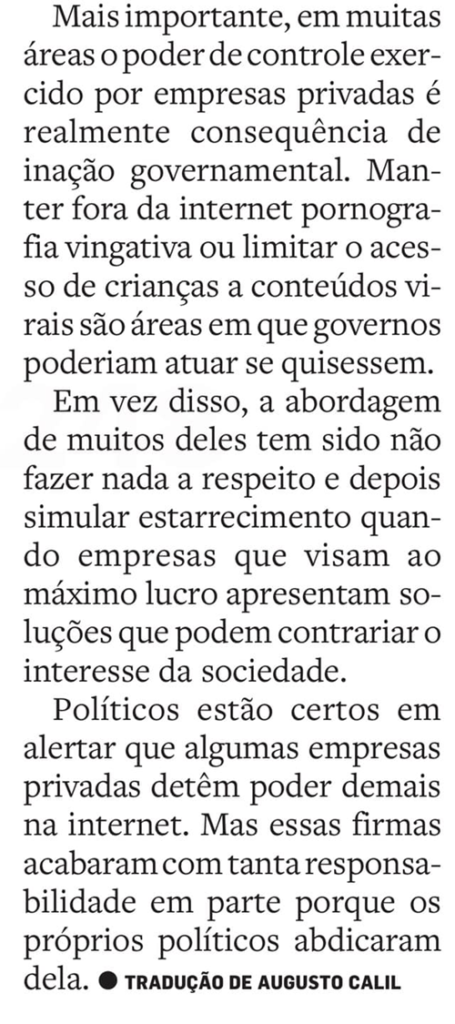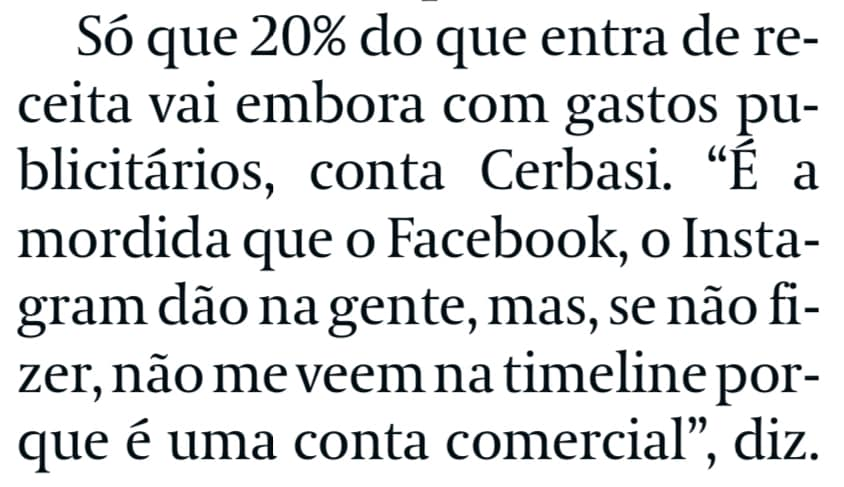Manchetes como essa abundaram na imprensa depois do tombo das empresas de tecnologia. Os bilionários ficaram mais pobres. O tom é de mal disfarçada satisfação.
Tenho um amigo que me confidenciou nessa semana que acha muito errado essa concentração de riqueza nas mãos de poucos e tantos passando fome. Que esse dinheiro, ao invés de ficar empoçado, deveria ser colocado para trabalhar ou, no mínimo, para mitigar o sofrimento dos mais pobres.
Esse meu amigo é economista e trabalha no mercado financeiro, então não faz o estereótipo do estudante de sociologia maconheiro, que vive de ditar regras de como o mundo seria melhor se os outros fizessem a sua parte. Por isso, acho que o seu ponto de vista talvez seja compartilhado, de maneira menos ou mais envergonhada, por outras pessoas que, sinceramente, não entendem como bilhões se acumulam nas mãos de tão poucos e ninguém faz nada a respeito disso. Assim, resolvi escrever este post, como uma resposta estruturada ao meu amigo (nem sei se ele vai ler) e a todas essas pessoas.
Em primeiro lugar, a concentração de riqueza não é um fenômeno de hoje. Na verdade, esse problema já foi muito pior em um passado remoto, bem antes do capitalismo, quando reis e nobreza realmente concentravam a (pouca) renda produzida. O surgimento da classe média – largas fatias da população com renda média – é um fenômeno relativamente recente, contemporâneo ao surgimento do capitalismo. Portanto, estamos reclamando de barriga cheia. Aliás, como igualmente acontece em vários outros campos em que as conquistas civilizatórias são tomadas como direito divino, e não como o que são, conquistas que não seriam alcançadas sem a devida mobilização de capital físico e humano.
Aqui entra a segunda parte da resposta ao meu amigo: o capital dos bilionários não está “empoçado”, inerte, ocioso. Muito pelo contrário: este capital, assim como a poupança de cada um de nós, está investido. Grande parte da riqueza desses bilionários está investida em sua própria empresa. Ou seja, a sua riqueza é formada pelas ações de suas empresas. Essas empresas geram valor para a sociedade. Caso contrário, valeriam zero. O preço de uma ação é dado pelo valor agregado pela empresa percebido pelos investidores. Este valor é medido pelo lucro do empreendimento. As empresas estão no mercado disputando o capital dos poupadores. Os bilionários poderiam se desfazer de suas ações e investir em outros empreendimentos com mais futuro. No limite, poderiam comprar títulos do governo, que não têm risco. Aliás, esta é uma tentação grande para os investidores brasileiros, que têm à disposição títulos do governo que pagam uma das maiores taxas de juros do mundo. Por que arriscar?
Os bilionários tiveram a “sorte” de poder investir em suas próprias empresas logo no início, quando não valiam nada. Na medida em que a empresa foi crescendo, o capital investido foi se multiplicando. E a empresa só cresce se agrega valor para o seu cliente, a ponto de pagar os custos da operação e ainda gerar lucro. Caso contrário, vai habitar o populoso cemitério das empresas que não deram certo. Para cada Zuckerberg bilionário, há milhões de empresários que não foram para frente. Há um risco, e não é pequeno.
Mesmo o dinheiro que não está investido em suas próprias empresas não está ocioso. É investido em outras empresas ou em títulos do governo. Ou seja, servem para financiar as beneméritas ações que os governos fazem com o nosso dinheiro. Aliás, não deixa de ser curioso que os mesmos que demonizam os bilionários são normalmente aqueles que esperam que os governos mitiguem os sofrimentos dos mais pobres. Com que dinheiro? Ah sim, dos bilionários. Ou seja, esse dinheiro “empoçado” está servindo para financiar as ações dos governos.
Mas o que este meu amigo gostaria mesmo é de um imposto que fizesse um corte na fortuna desses bilionários, carreando esse dinheiro para os cofres do governo. Ou seja, ao invés de tomar emprestado via títulos públicos, esse dinheiro “a mais” seria confiscado via impostos. Claro que a linha de corte para a taxação dos mais ricos teria que ser mais alta do que a fortuna desse meu amigo, que certamente está entre os 1% mais ricos do Brasil. Afinal, ricos são sempre os outros. Mas digamos que essa questão da linha de corte fosse resolvida. O ponto é: qual seria a mágica para manter o espírito empreendedor, dado que o grande prêmio seria tomado pelo governo, e todos estariam destinados a serem classe média? Regimes socialistas tentaram fazer isso, com os resultados conhecidos.
Para terminar, vou além: a concentração de capitais é benéfica para a sociedade. Somente a concentração de capitais permite que exista poupança. E somente com poupança é possível ter investimentos. Se todos tivessem somente o necessário para sobreviver, não haveria poupança, não haveria investimentos, não haveria novas empresas (que supõe colocar o capital em risco e, eventualmente, perdê-lo) e, no final, não haveria progresso.
O governo pode tentar substituir a poupança privada, investindo o dinheiro dos impostos. No entanto, conhecemos a eficiência desses investimentos. Portanto, é preciso ter sobra de capital privado para arriscar em novos empreendimentos. Não existe capital “empoçado”, ocioso, a não ser na cabeça de quem não conhece a dinâmica do capitalismo.