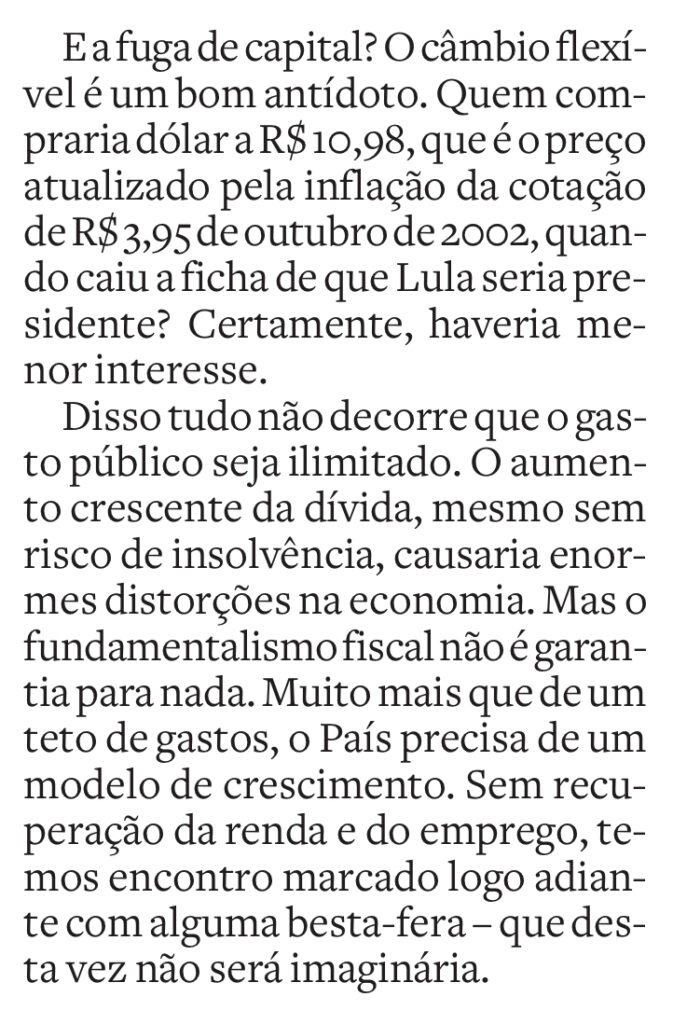O Teto de Gastos virou o novo vilão dos defensores dos fracos e oprimidos. Há alguns anos era o superávit primário. Como este não passa hoje de uma miragem, o Teto de Gastos passou a ser o inimigo a ser combatido.
Neste artigo, Luís Eduardo Assis, ex-diretor do BC e ex-executivo do mercado financeiro, coloca-se no lado escuro da força, e une-se às vozes, entre as quais a mais estridente é a de Mônica de Bolle, que defendem o fim do Teto de Gastos como política fiscal.
Os defensores do fim do Teto de Gastos se dividem basicamente em dois grupos: o primeiro afirma que não é preciso colocar nada no lugar, enquanto o segundo admite que alguma coisa precisa substituir o Teto.
O primeiro grupo acredita que não há limite para o endividamento de um país que emite a sua própria moeda. Afinal, os agentes pagam seus impostos nesta moeda, retornando para o governo aquilo que foi emitido.
Para o segundo grupo, há algum limite para o endividamento e, portanto, o Teto de Gastos precisa ser substituído por alguma outra regra ou dinâmica que limite esse endividamento.
Assis não se decidiu bem em que grupo está. Primeiro fala que o orçamento de um país não é comparável ao orçamento de uma família, pois o país emite a sua própria moeda. Está implícita nessa afirmação a não limitação para o endividamento. Mas depois, o autor do artigo diz que há um limite. Fiquei confuso.
De qualquer maneira, não vou perder tempo discutindo com o primeiro grupo. Se não há limite, a própria Economia, que é o estudo da aplicação de recursos escassos, perde o seu sentido. Afinal, basta imprimir dinheiro suficiente para que todos fiquem felizes neste mundo sem restrição orçamentária.
Vamos para o mundo real, em que existem limites. Para tanto, vamos fazer uma pequena digressão.
O Plano Real foi o único plano bem-sucedido de estabilização monetária da história do Brasil. O seu sucesso veio não tanto do truque da URV, que superindexou a economia para depois transformar o próprio indexador em moeda, mas principalmente da disciplina fiscal que se seguiu. Inúmeros esqueletos fiscais, principalmente nos Estados, foram tirados dos armários, e a carga tributária foi aumentada de maneira significativa para bancar os gastos do Estado. Ou seja, houve uma formalização da carga tributária, que estava escondida sob a forma de inflação.
Já na década dos 2000, a política de superávits primários foi mantida graças não mais ao aumento da carga tributária, mas pelo aumento das receitas proporcionado pelo grande ciclo das commodities, que surfamos durante vários anos. As despesas aumentaram no mesmo passo, mas como era a época das vacas gordas, a conta fechava.
Veio o início dos anos 2010, e o grande ciclo das commodities perdeu a sua força. Continuamos a pedalar a bike por um algum tempo, primeiro queimando a gordura e, depois, como sabemos, fazendo fraude contábil, que acabou sendo o detalhe técnico para o impeachment. A partir de 2015, começamos a fazer déficits primários, o que significa que gastamos mais do arrecadamos antes mesmo de pagar os juros da dívida. O resultado é o aumento da dívida pública.
Alguma coisa precisava ser feita para dar a sinalização para os credores (aqueles seres que insistem em ter alguma garantia de que terão o seu dinheiro de volta em algum momento no futuro) de que a dívida estava sob controle. Daí nasce o Teto de Gastos.
Abre parênteses: vou falar aqui com aqueles que concordam que há restrições orçamentárias tanto para famílias quanto para países, ok? Aliás, quanto mais pobre for um país, quanto mais a sua história for de calotes e volatilidade, mais essas restrições se aplicam. Os EUA, o Japão, a Alemanha têm menos restrição orçamentária que países como o Brasil, pois são mais estáveis e confiáveis. Aliás, isso vale também para famílias, não é mesmo? Fecha parênteses.
Existem quatro maneiras de um país estabilizar a sua dívida. Duas são virtuosas, duas são viciosas.
As virtuosas são aumentando receitas e/ou diminuindo despesas. As viciosas são inflação e calote. Nós estamos discutindo as formas virtuosas porque não queremos chegar nas formas viciosas. A Argentina, por exemplo, tem uma inflação de 50% ao ano mesmo com uma recessão tão profunda quanto a nossa, e está, neste momento, “renegociando” a dívida com seus credores. Ou seja, dando calote.
Nas décadas de 90 e 2000 nós aumentamos receitas, seja através do aumento de impostos, seja através de crescimento econômico. Na década de 2010, as receitas pararam de aumentar, pois não havia mais espaço para o aumento da carga tributária e crescimento econômico é apenas uma miragem. Resta apenas o controle dos gastos. Essa é a lógica do Teto de Gastos.
Assis, assim como De Bolle e outros que defendem o fim do Teto, quando confrontados com a pergunta sobre a alternativa, apenas balbuciam platitudes que servem para qualquer ocasião. É o que vemos no último parágrafo do artigo, onde o colunista diz que o país deveria acabar com o corporativismo e ser mais justo na distribuição dos impostos. Sim, e eu sugiro também a paz e a harmonia entre os povos. Também sugere aumento da carga tributária, uma das maiores do mundo e a maior dentre os emergentes, mas isso não vou nem comentar.
Que há problemas de corporativismo e de distribuição dos benefícios sociais não há dúvida. Mas o Teto de Gastos não se propõe a resolver isso. Seu objetivo é simplesmente controlar a trajetória da dívida pública. Dizer que existem outros problemas que o Teto não resolve e, por isso, deveria ser eliminado, não é uma solução, é só um sofisma.
O Brasil é um alcoólatra, e o álcool são os gastos públicos. Tirar o Teto de Gastos significa deixar a garrafa ao alcance. Se não houver outro mecanismo de controle, precisaríamos confiar na palavra do governo e do Congresso de que não tocariam mais na garrafa. Acredite se quiser.