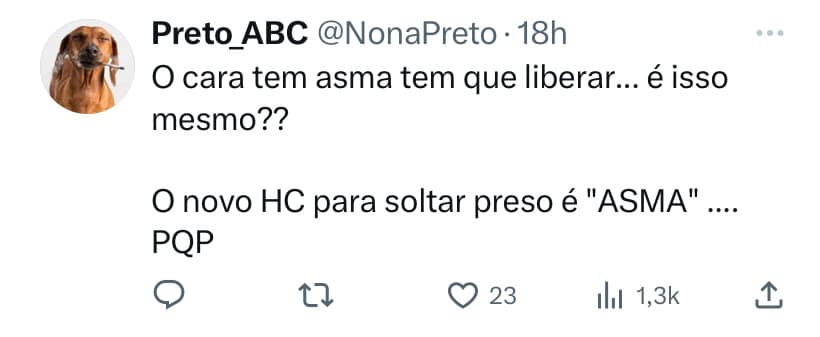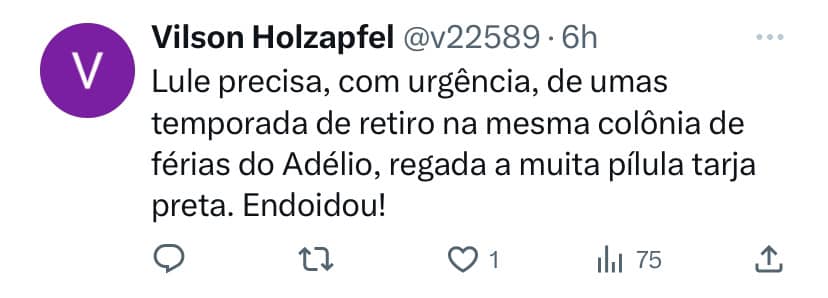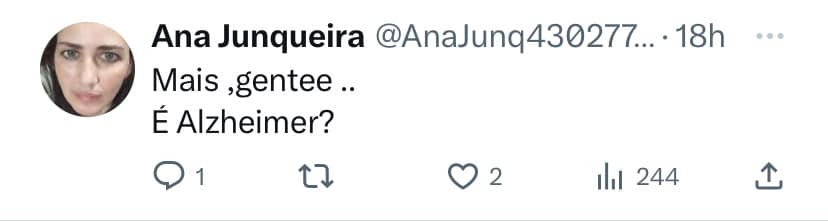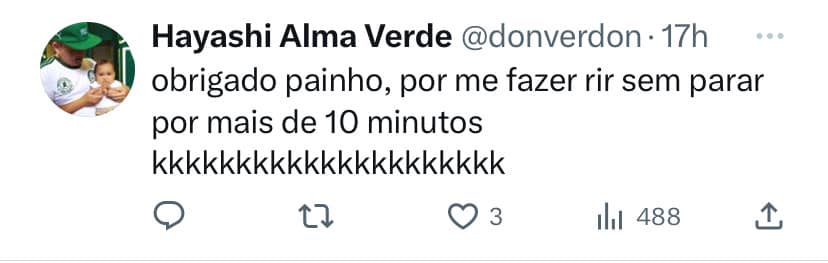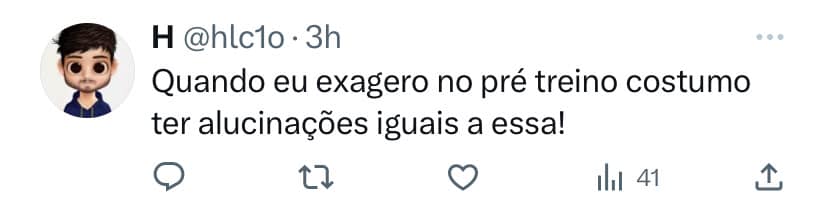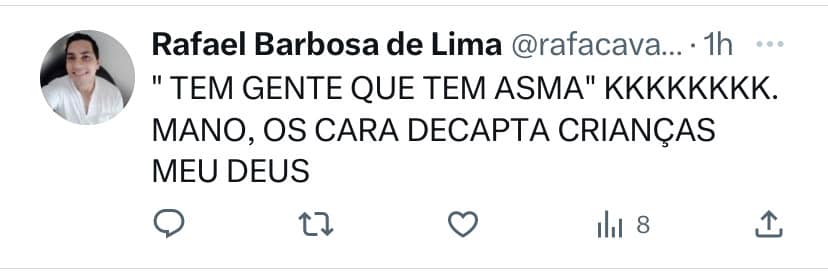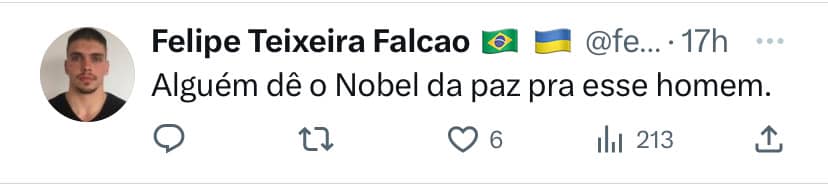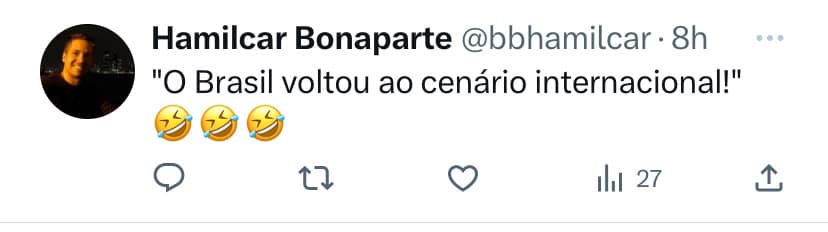O amigo Eduardo Trajano indicou-me um artigo escrito por Simon Sebag Montefiore sobre o tema da “colonização opressora” israelense. Montefiore é um jornalista e historiador britânico, autor dos livros “Stalin: A Corte do Czar Vermelho” e “Jerusalém: A Biografia”. Li ambos e recomendo.
Bem, esse artigo é longo, mas é definitivo. Tão definitivo, que decidi traduzi-lo e colocá-lo aqui na minha página, pois acho a sua leitura obrigatória. Para quem quiser ler no original, é só clicar aqui.
A narrativa da decolonização é perigosa e falsa
Ela não descreve com precisão nem a fundação de Israel e nem a tragédia dos palestinos.
Por Simon Sebag Montefiore
The Atlantic – 27/10/2023
A PAZ NO CONFLITO ISRAEL-PALESTINA já era difícil de alcançar antes do bárbaro ataque do Hamas em 7 de outubro e da resposta militar de Israel. Agora parece quase impossível, mas sua essência está mais clara do que nunca: em última análise, uma negociação para estabelecer um Israel seguro ao lado de um Estado palestino seguro.
Quaisquer que sejam as enormes complexidades e desafios para concretizar este futuro, uma verdade deveria ser óbvia entre as pessoas decentes: matar 1.400 pessoas e raptar mais de 200, incluindo dezenas de civis, foi profundamente errado. O ataque do Hamas assemelhou-se a um ataque mongol medieval para matança e obtenção de troféus humanos – exceto pelo fato de que foi gravado em tempo real e publicado nas redes sociais. No entanto, desde 7 de outubro, acadêmicos, estudantes, artistas e ativistas ocidentais negaram, desculparam ou mesmo celebraram os assassinatos cometidos por uma seita terrorista que proclama um programa genocida antijudaico. Parte disto está acontecendo abertamente, parte por detrás das máscaras do humanitarismo e da justiça, e parte em código, o mais famoso sendo “do rio ao mar”, uma frase assustadora que endossa implicitamente o assassinato ou a deportação dos 9 milhões de israelenses. Parece estranho que se diga: matar civis, idosos e até bebês é sempre errado. Mas hoje é preciso ser dito.
Como podem pessoas instruídas justificar tal insensibilidade e abraçar tal desumanidade? Estão em jogo aqui todo tipo de coisas, mas grande parte da justificativa para matar civis baseia-se em uma ideologia em voga, a “decolonização”, que, tomada pelo seu valor de face, exclui a negociação de dois Estados – a única solução real para este século de conflitos – e é tão perigoso quanto falso.
SEMPRE ME PERGUNTEI sobre os intelectuais de esquerda que apoiavam Stalin, e aqueles simpatizantes aristocráticos e ativistas da paz que desculparam Hitler. Os atuais apologistas do Hamas e negadores das atrocidades, com as suas denúncias robóticas do “colonialismo dos colonizadores” pertencem à mesma tradição, mas pior: têm provas abundantes do massacre de idosos, adolescentes e crianças, mas, ao contrário daqueles tolos da década de 1930, que lentamente chegaram à verdade, eles não mudaram seus pontos de vista nem um pouco. A falta de decência e respeito pela vida humana é surpreendente: quase instantaneamente após o ataque do Hamas, uma legião de pessoas subestimou o massacre, ou negou que atrocidades reais tivessem acontecido, como se o Hamas tivesse acabado de realizar uma operação militar tradicional contra soldados. Os negacionistas do 7 de outubro, tal como os negacionistas do Holocausto, vivem em um lugar especialmente sombrio.
A narrativa da decolonização desumanizou os israelitas ao ponto de pessoas de outra forma racionais desculparem, negarem ou apoiarem a barbárie. A tese sustenta que Israel é uma força “imperialista-colonialista”, que os israelitas são “colonizadores” e que os palestinos têm o direito de eliminar os seus opressores. (No dia 7 de outubro, todos aprendemos o que isso significa). Classifica os israelitas como “brancos” ou “adjacentes aos brancos” e os palestinos como “pessoas de cor”.
Esta ideologia, poderosa na academia, e que há muito merece um desafio sério, é uma mistura tóxica e historicamente absurda de teoria marxista, propaganda soviética e antissemitismo tradicional da Idade Média e do século XIX. Mas o seu motor atual é a nova análise de identidade, que vê a história através de um conceito de raça que deriva da experiência americana. O argumento é que é quase impossível que os “oprimidos” sejam eles próprios racistas, tal como é impossível que um “opressor” seja alvo de racismo. Os judeus, portanto, não podem sofrer racismo, porque são considerados “brancos” e “privilegiados”; não sendo vítimas, podem explorar e de fato exploram outras pessoas menos privilegiadas, no Ocidente através dos pecados do “capitalismo explorador” e no Oriente Médio através do “colonialismo”.
Esta análise esquerdista, com a sua hierarquia de identidades oprimidas – e jargão intimidador, uma pista para a sua falta de rigor factual – substituiu, em muitas partes da academia e dos meios de comunicação, os valores tradicionais universalistas da esquerda, incluindo padrões internacionalistas de decência e respeito pela vida humana e a segurança de civis inocentes. Quando esta análise desajeitada colide com as realidades do Oriente Médio, perde qualquer contato com os fatos históricos.
Na verdade, é necessário um salto surpreendente de ilusão a-histórica para desconsiderar o histórico de racismo antijudaico ao longo dos dois milênios desde a queda do Templo da Judéia em 70 d.C. Afinal, o massacre de 7 de outubro está no mesmo nível dos assassinatos em massa medievais de judeus em sociedades cristãs e islâmicas, os massacres de Khmelnytsky na Ucrânia de 1640, os pogroms russos de 1881 a 1920 – e o Holocausto. Até o Holocausto é agora por vezes desconstruído – como notoriamente fez a atriz Whoopi Goldberg – como “não sendo uma questão de raça”, uma abordagem tão ignorante quanto repulsiva.
Ao contrário da narrativa decolonizadora, Gaza não está tecnicamente ocupada por Israel – não no sentido habitual de soldados no terreno. Israel evacuou a Faixa em 2005, removendo os seus assentamentos. Em 2007, o Hamas tomou o poder, matando os seus rivais da Fatah numa curta guerra civil. O Hamas criou um Estado de partido único que esmaga a oposição palestina no seu território, proíbe as relações entre pessoas do mesmo sexo, reprime as mulheres e defende abertamente o assassinato de todos os judeus.
Companhia muito estranha para esquerdistas.
É claro que alguns manifestantes que gritam “do rio ao mar” podem não ter ideia do que estão pedindo; são ignorantes e acreditam que estão simplesmente apoiando a “liberdade”. Eles são simplesmente pró-palestinos – mas sentem a necessidade de apresentar o massacre do Hamas como uma resposta compreensível à opressão “colonial” judaico-israelense. No entanto, outros são negacionistas malignos que buscam a morte de civis israelenses.
A toxicidade desta ideologia é agora clara. Intelectuais outrora respeitáveis debateram descaradamente se 40 bebês foram desmembrados ou se um número menor apenas teve a garganta cortada ou foi queimado vivo. Estudantes agora rasgam regularmente cartazes de crianças mantidas como reféns do Hamas. É difícil entender tamanha desumanidade cruel. A nossa definição de crime de ódio está em constante expansão, mas se isto não é um crime de ódio, o que é? O que está acontecendo em nossas sociedades? Algo deu errado.
Numa reviravolta racista, os judeus são agora acusados dos mesmos crimes que eles próprios sofreram. Daí a afirmação constante de um “genocídio” quando nenhum genocídio ocorreu ou foi planejado. Israel, juntamente com o Egito, impôs um bloqueio a Gaza desde que o Hamas assumiu o poder, e tem bombardeado periodicamente a Faixa em retaliação aos ataques regulares de foguetes. Depois de mais de 4.000 foguetes terem sido disparados pelo Hamas e seus aliados contra Israel, a Guerra de Gaza de 2014 resultou em mais de 2.000 mortes de palestinos. Mais de 7.000 palestinos, incluindo muitas crianças, morreram até agora nesta guerra, segundo o Hamas. Isto é uma tragédia – mas não é um genocídio, uma palavra que foi agora tão desvalorizada pelo seu abuso metafórico que se tornou sem sentido.
Devo também dizer que o domínio israelense nos Territórios Ocupados da Cisjordânia é diferente e, na minha opinião, inaceitável, insustentável e injusto. Os palestinos na Cisjordânia têm sofrido uma ocupação dura, injusta e opressiva desde 1967. Os colonos sob o vergonhoso governo de Netanyahu assediaram e perseguiram os palestinos na Cisjordânia: 146 palestinos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental foram mortos em 2022 e pelo menos 153 em 2023, antes do ataque do Hamas, e mais de 90 desde então. Mais uma vez: isto é terrível e inaceitável, mas não é genocídio.
Embora exista um forte instinto para fazer disto um “genocídio” semelhante ao Holocausto, não o é: os palestinos sofrem com muitas coisas, incluindo a ocupação militar; intimidação e violência dos colonos; liderança política palestina corrupta; negligência insensível por parte dos seus irmãos em mais de 20 estados árabes; a rejeição por parte de Yasser Arafat, o falecido líder palestino, de planos que teriam levado à criação de um Estado palestino independente; e assim por diante. Nada disso constitui genocídio, ou algo parecido com genocídio. O objetivo israelense em Gaza – por razões práticas, entre outras – é minimizar o número de civis palestinos mortos. O Hamas e organizações com ideias semelhantes deixaram bem claro ao longo dos anos que maximizar o número de vítimas palestinas é do seu interesse estratégico. (Deixe tudo isso de lado e considere: a população judaica mundial ainda é menor do que era em 1939, por causa dos danos causados pelos nazistas. A população palestina cresceu e continua a crescer. A redução demográfica é um marcador óbvio de genocídio. No total, cerca de 120 mil árabes e judeus foram mortos no conflito Palestina-Israel desde 1860. Em contraste, pelo menos 500 mil pessoas, principalmente civis, foram mortas na guerra civil síria desde que começou, em 2011).
SE A IDEOLOGIA DA DECOLONIZAÇÃO, ensinada nas nossas universidades como uma teoria da história e gritada nas nossas ruas como evidentemente justa, interpreta muito mal a realidade atual, será que reflete a história de Israel como ela afirma fazer? Não. Na verdade, não descreve com precisão nem a fundação de Israel nem a tragédia dos palestinos.
De acordo com os decolonizadores, Israel é e sempre foi um Estado estranho ilegítimo porque foi fomentado pelo Império Britânico e porque alguns dos seus fundadores eram judeus nascidos na Europa.
Nesta narrativa, a origem de Israel é manchada pela promessa quebrada da Grã-Bretanha imperial de proporcionar a independência árabe, e pela sua promessa cumprida de apoiar um “lar nacional para o povo judeu”, na linguagem da Declaração Balfour de 1917. Mas a suposta promessa aos árabes era, na verdade, um acordo ambíguo de 1915 com Sharif Hussein de Meca, que queria que sua família Hachemita governasse toda a região. Em parte, ele não recebeu este novo império porque a sua família tinha muito menos apoio regional do que ele afirmava. No entanto, em última análise, a Grã-Bretanha entregou três reinos – Iraque, Jordânia e Hejaz – à família.
As potências imperiais – Grã-Bretanha e França – fizeram todo o tipo de promessas a diferentes povos e depois colocaram os seus próprios interesses em primeiro lugar. Essas promessas aos judeus e aos árabes durante a Primeira Guerra Mundial eram típicas. Posteriormente, promessas semelhantes foram feitas aos curdos, aos armênios e a outros, mas nenhuma delas se concretizou. Mas a narrativa central de que a Grã-Bretanha traiu a promessa aos árabes e apoiou a judaica está incompleta. Na década de 1930, a Grã-Bretanha voltou-se contra o sionismo e, de 1937 a 1939, avançou para um Estado árabe sem qualquer Estado judeu. Foi uma revolta armada judaica, de 1945 a 1948, contra a Grã-Bretanha imperial, que culminou no Estado judeu.
Israel existe graças a esta revolta e ao direito e à cooperação internacionais, algo em que os esquerdistas acreditavam no passado. A ideia de uma “pátria” judaica foi proposta em três declarações pela Grã-Bretanha (assinada por Balfour), França e Estados Unidos, então promulgadas numa resolução de julho de 1922 da Liga das Nações que criou os “mandatos” britânicos sobre a Palestina e o Iraque, e que correspondiam aos “mandatos” franceses sobre a Síria e o Líbano. Em 1947, as Nações Unidas planejaram a divisão do mandato britânico da Palestina em dois estados, um árabe e um judeu.
A criação de tais estados a partir desses mandatos também não foi excepcional. No final da Segunda Guerra Mundial, a França concedeu independência à Síria e ao Líbano, Estados-nação recém-concebidos. A Grã-Bretanha criou o Iraque e a Jordânia de forma semelhante. As potências imperiais projetaram a maioria dos países da região, exceto o Egito.
Tampouco foi especial a promessa imperial de pátrias separadas para diferentes etnias ou seitas. Os franceses tinham prometido estados independentes para os drusos, alauitas, sunitas e maronitas, mas no final combinaram-nos na Síria e no Líbano. Todos esses estados foram “vilayets” e “sanjaks” (províncias) do Império Turco Otomano, governado a partir de Constantinopla, de 1517 a 1918.
O conceito de “partição” é, na narrativa da decolonização, considerado um perverso truque imperial. Mas foi inteiramente normal na criação dos Estados-nação do século XX, que foram tipicamente formados a partir de impérios decaídos. E, infelizmente, a criação de Estados-nação foi frequentemente marcada por trocas populacionais, enormes migrações de refugiados, violência étnica e guerras em grande escala. Pensemos na guerra greco-turca de 1921-22 ou na divisão da Índia em 1947. Neste sentido, o processo Israel-Palestina foi típico.
No cerne da ideologia da decolonização está a categorização de todos os israelenses, históricos e atuais, como “colonos”. Isto está simplesmente errado. A maioria dos israelenses descende de pessoas que migraram para a Terra Santa entre 1881 e 1949. Eles não eram completamente novos na região. O povo judeu governou os reinos da Judéia e orou no Templo de Jerusalém durante mil anos, depois esteve presente lá em números menores durante os 2.000 anos seguintes. Em outras palavras, os judeus são indígenas na Terra Santa, e se alguém acredita no regresso dos exilados à sua terra natal, então o regresso dos judeus é exatamente isso. Mesmo aqueles que negam essa história ou a consideram irrelevante para os tempos modernos, devem reconhecer que Israel é agora o único lar de 9 milhões de israelenses que viveram lá durante quatro, cinco, seis gerações.
A maioria dos migrantes para, digamos, o Reino Unido ou os Estados Unidos são considerados britânicos ou americanos. A política em ambos os países está repleta de líderes proeminentes – Suella Braverman e David Lammy, Kamala Harris e Nikki Haley – cujos pais ou avós migraram da Índia, da África Ocidental ou da América do Sul. Ninguém os descreveria como “colonos”. No entanto, as famílias israelenses residentes em Israel há um século são designadas como “colonos” prontos para serem assassinados e mutilados. E, ao contrário do que defendem os apologistas do Hamas, a etnia dos perpetradores ou das vítimas nunca deveria justificar atrocidades. Seriam atrozes em qualquer lugar, cometidos por qualquer pessoa com qualquer história. É desanimador que muitas vezes sejam os autodeclarados “antirracistas” que defendem agora exatamente este assassinato justificado pela etnia.
Os esquerdistas acreditam que os migrantes que escaparam à perseguição devem ser bem-vindos e autorizados a construir as suas vidas noutro lugar. Quase todos os antepassados dos atuais israelenses escaparam à perseguição.
Se a narrativa do “colonizador” não é verdadeira, é verdade que o conflito é o resultado da rivalidade brutal e da batalha pela terra entre dois grupos étnicos, ambos com reivindicações legítimas de viver nessa terra. À medida que mais judeus se mudavam para a região, os árabes palestinos, que ali viviam há séculos e eram a clara maioria, sentiam-se ameaçados por estes imigrantes. A reivindicação palestina sobre a terra não está em dúvida, nem a autenticidade da sua história, nem a sua reivindicação legítima ao seu próprio Estado. Mas inicialmente os migrantes judeus não aspiravam a um Estado, apenas a viver e a cultivar em uma vaga “pátria”. Em 1918, o líder sionista Chaim Weizmann conheceu o Príncipe Hachemita Faisal Bin Hussein para discutir a situação dos judeus que viviam sob seu governo como rei da grande Síria. O conflito de hoje não era inevitável. Tornou-se assim quando as comunidades se recusaram a partilhar e a coexistir, recorrendo então às armas.
Ainda mais absurdo do que o rótulo de “colonizador” é a versão da “branquitude”, que é fundamental para a ideologia da decolonização. Novamente: isso é simplesmente errado. Israel tem uma grande comunidade de judeus etíopes, e cerca de metade de todos os israelenses – isto é, cerca de 5 milhões de pessoas – são Mizrahi, os descendentes de judeus de terras árabes e persas, pessoas do Médio Oriente. Eles não são nem “colonos”, nem “colonialistas”, nem europeus “brancos”, mas sim habitantes de Bagdad, do Cairo e de Beirute durante muitos séculos, mesmo milênios, que foram expulsos depois de 1948.
Uma palavra sobre aquele ano, 1948, o ano da Guerra da Independência de Israel e da Nakba (“Catástrofe”) palestina, que no discurso da decolonização equivale a uma limpeza étnica. Houve, de fato, intensa violência étnica de ambos os lados quando os estados árabes invadiram o território e, juntamente com as milícias palestinas, tentaram impedir a criação de um estado judeu. Eles falharam, o que acabou por impedir a criação de um Estado palestino, tal como pretendido pelas Nações Unidas. O lado árabe procurou matar ou expulsar toda a comunidade judaica – precisamente da mesma forma assassina que vimos em 7 de outubro. E nas áreas que o lado árabe capturou, como Jerusalém Oriental, todos os judeus foram expulsos.
Nesta guerra brutal, os israelenses expulsaram efetivamente alguns palestinos das suas casas; outros fugiram dos combates; outros ainda ficaram e são agora árabes israelenses que têm direito a voto na democracia israelenses. (Cerca de 25% dos israelenses atuais são árabes e drusos.) Cerca de 700.000 palestinos perderam as suas casas. Essa é um número enorme e uma tragédia histórica. A partir de 1948, cerca de 900 mil judeus perderam as suas casas em países islâmicos e a maioria deles mudou-se para Israel. Estes acontecimentos não são diretamente comparáveis, e não pretendo propor uma competição em termos de tragédia ou hierarquia de vitimização. Mas o passado é muito mais complicado do que os decolonizadores querem fazer crer.
Deste imbróglio, emergiu um Estado, Israel, e outro não, a Palestina. Sua formação está muito atrasada.
É BIZARRO que um pequeno estado no Oriente Médio atraia tanta atenção apaixonada no Ocidente, a ponto de os estudantes correrem pelas universidades da Califórnia gritando “Palestina Livre”. Mas a Terra Santa tem um lugar excepcional na história ocidental. Está incorporado na nossa consciência cultural, graças às Bíblias Hebraica e Cristã, à história do Judaísmo, à fundação do Cristianismo, ao Alcorão e à criação do Islã, e às Cruzadas que, juntas, fizeram com que os Ocidentais se sentissem envolvidos no seu destino. O primeiro-ministro britânico David Lloyd George, o verdadeiro arquiteto da Declaração Balfour, costumava dizer que os nomes dos lugares na Palestina “eram-me mais familiares do que os da Frente Ocidental”. Esta afinidade especial com a Terra Santa funcionou inicialmente a favor do regresso judaico, mas ultimamente tem funcionado contra Israel. Os ocidentais, ansiosos por expor os crimes do imperialismo euro-americano, mas incapazes de oferecer uma solução, uniram-se, muitas vezes sem conhecimento da história real, em torno de Israel e da Palestina como o exemplo mais vívido da injustiça imperialista do mundo.
O mundo aberto das democracias liberais – ou do Ocidente, como costumava ser chamado – está hoje polarizado por uma política paralisada, disputas culturais mesquinhas mas cruéis sobre identidade e gênero, e um sentimento de culpa pelos sucessos e pecados históricos, uma culpa que é bizarramente expiada através da demonstração de simpatia e até atração por inimigos dos nossos valores democráticos. Neste cenário, as democracias ocidentais são sempre maus atores, hipócritas e neo-imperialistas, enquanto as autocracias estrangeiras ou seitas terroristas como o Hamas são inimigas do imperialismo e, portanto, forças sinceras do bem. Neste cenário de pernas para o ar, Israel é uma metáfora viva e serve de penitência pelos pecados do Ocidente. O resultado é o intenso escrutínio de Israel e a forma como é julgado, usando-se padrões raramente alcançados por qualquer nação em guerra, incluindo os Estados Unidos.
Mas a narrativa decolonizadora é muito pior do que uma análise de dois pesos e duas medidas; desumaniza uma nação inteira e desculpa, e até celebra, o assassinato de civis inocentes. Como demonstraram estas duas últimas semanas, a decolonização é agora a versão autorizada da história em muitas das nossas escolas e instituições supostamente humanitárias, e entre artistas e intelectuais. É apresentada como história, mas na verdade é uma caricatura, uma história zumbi com o seu arsenal de jargões – o sinal de uma ideologia coercitiva, como argumentou Foucault – e a sua narrativa autoritária de vilões e vítimas. E só se mantém num cenário em que grande parte da história real é suprimida e em que todas as democracias ocidentais são atores de má-fé.
Embora lhe falte a sofisticação da dialética marxista, a sua certeza moral hipócrita impõe um quadro moral a uma situação complexa e intratável, que alguns podem achar consoladora. Sempre que você lê um livro ou um artigo e ele usa a expressão “colonizador-colonialista” (“settler-colonialist” no original), você está lidando com polêmica ideológica, não com história.
Em última análise, esta narrativa zumbi é um beco sem saída moral e político que leva ao massacre e ao impasse. Isto não é nenhuma surpresa, porque se baseia numa história falsa: “Um passado inventado nunca pode ser usado”, escreveu James Baldwin. “Ele racha e desmorona sob as pressões da vida como argila”.
Mesmo quando a palavra decolonização não aparece, esta ideologia está incorporada na cobertura partidária do conflito pelos meios de comunicação social e permeia as recentes condenações de Israel. A alegria dos estudantes, em resposta ao massacre, em Harvard, na Universidade da Virgínia e em outras universidades; o apoio ao Hamas entre artistas e atores, juntamente com os equívocos evasivos por parte dos líderes de algumas das instituições de investigação mais famosas da América, demonstraram uma chocante falta de moralidade, humanidade e decência básica.
Um exemplo repulsivo foi uma carta aberta assinada por milhares de artistas, incluindo atores britânicos famosos como Tilda Swinton e Steve Coogan. Alertou contra os iminentes crimes de guerra de Israel e ignorou totalmente o casus belli: o massacre de 1.400 pessoas.
A jornalista Deborah Ross escreveu num poderoso artigo do Times of London que estava “totalmente chocada” porque a carta não continha “nenhuma menção ao Hamas” e nenhuma menção ao “sequestro e assassinato de bebês, crianças, avós, jovens dançando pacificamente em um festival de paz. A falta de compaixão básica e humanidade, isso é o que foi tão inacreditavelmente devastador. É tão difícil? Apoiar e sentir pelos cidadãos palestinos… ao mesmo tempo em que reconhece o horror indiscutível dos ataques do Hamas?” Então ela perguntou a esse desfile dramático de nulidades morais: “O que isso resolve, uma carta como essa? E por que alguém a assinaria?”
O conflito Israel-Palestina é desesperadamente difícil de resolver e a retórica da decolonização torna ainda menos provável a única saída que é o compromisso negociado.
Desde a sua fundação em 1987, o Hamas tem utilizado o assassinato de civis para inviabilizar qualquer possibilidade de uma solução de dois Estados. Em 1993, os seus atentados suicidas contra civis israelenses foram concebidos para destruir os Acordos de Olso, de dois Estados, que reconheciam Israel e Palestina. Este mês, os terroristas do Hamas desencadearam a sua matança, em parte para minar a paz com a Arábia Saudita que teria melhorado a política e o padrão de vida palestinos, e revigorado o esclerosado rival do Hamas, a Autoridade Palestiniana. Em parte, serviram ao Irã para impedir o aumento do poder da Arábia Saudita, e as suas atrocidades foram, naturalmente, uma armadilha espetacular para provocar uma reação exagerada israelense. Muito provavelmente, estão atingindo seus objetivos, mas para o fazer estão explorando cinicamente o povo palestino inocente como um sacrifício para objetivos políticos, o que é um segundo crime contra civis. Da mesma forma, a ideologia da decolonização, com a sua negação do direito de Israel à existência e do direito do seu povo a viver em segurança, torna a existência de um Estado palestino menos provável, se não impossível.
O problema nos nossos países é mais fácil de resolver: a sociedade civil e a maioria chocada devem agora afirmar-se. As loucuras radicais dos estudantes não deveriam nos alarmar muito; os estudantes ficam sempre entusiasmados com extremismos revolucionários. Mas as celebrações indecentes em Londres, Paris e Nova York, e a clara relutância dos líderes das principais universidades em condenar os assassinatos, expuseram o custo de negligenciar esta questão e de deixar a “decolonização” colonizar a nossa academia.
Pais e alunos podem mudar-se para universidades que não sejam lideradas por equívocos e patrulhadas por negacionistas e carniceiros; os doadores podem retirar as suas doações em massa, e isso está começando nos Estados Unidos. Os filantropos podem retirar o financiamento de fundações humanitárias lideradas por pessoas que apoiam crimes de guerra contra a humanidade (contra vítimas selecionadas por raça). O público pode facilmente decidir não assistir a filmes estrelados por atores que ignoram o assassinato de crianças; os estúdios não precisam contratá-los. E nas nossas academias, esta ideologia venenosa, seguida pelos malignos e tolos, mas também pelos elegantes e bem-intencionados, tornou-se uma posição padrão. Deve perder a sua respeitabilidade, a sua autenticidade como história. A sua nulidade moral foi exposta à vista de todos.
Mais uma vez, os acadêmicos, os professores e a nossa sociedade civil, bem como as instituições que financiam e regulam as universidades e as instituições de caridade, precisam desafiar uma ideologia tóxica e desumana que não tem base na história real ou no presente da Terra Santa, e que justifica uma ideologia que permite que pessoas, de outra forma racionais, desculpem o desmembramento de bebês.
Israel fez muitas coisas duras e ruins. O governo de Netanyahu, o pior de sempre na história de Israel, tão inepto quanto imoral, promove um ultranacionalismo maximalista que é ao mesmo tempo inaceitável e imprudente. Todos têm o direito de protestar contra as políticas e ações de Israel, mas não de promover seitas terroristas, a matança de civis e a propagação de um antissemitismo ameaçador.
Os palestinos têm queixas legítimas e têm sofrido muitas injustiças brutais. Mas ambas as suas entidades políticas são totalmente falhas: a Autoridade Palestina, que governa 40% da Cisjordânia, é moribunda, corrupta, inepta e geralmente desprezada – e os seus líderes têm sido tão horríveis como os de Israel.
O Hamas é uma seita diabólica de matança que se esconde entre os civis, que sacrifica vidas no altar da resistência – como afirmaram abertamente vozes árabes moderadas nos últimos dias, e de forma muito mais dura do que os apologistas do Hamas no Ocidente. “Condeno categoricamente os ataques contra civis por parte do Hamas”, declarou comoventemente o veterano estadista saudita Príncipe Turki bin Faisal na última semana. “Também condeno o Hamas por dar uma base moral mais elevada a um governo israelense que é universalmente evitado até mesmo por metade do público israelense… Condeno o Hamas por sabotar a tentativa da Arábia Saudita de chegar a uma resolução pacífica para a situação dos palestinos”. Numa entrevista com Khaled Meshaal, membro do Politburo do Hamas, a jornalista árabe Rasha Nabil destacou o sacrifício que o Hamas faz do seu próprio povo pelos seus interesses políticos. Meshaal argumentou que este era apenas o custo da resistência: “Trinta milhões de russos morreram para derrotar a Alemanha”, disse ele.
Nabil é um exemplo para os jornalistas ocidentais que dificilmente ousam desafiar o Hamas e os seus massacres. Nada é mais paternalista e até Orientalista(1) do que a romantização dos carniceiros do Hamas, que muitos árabes desprezam. A negação das suas atrocidades por tantos no Ocidente é uma tentativa de transformar em heróis aceitáveis uma organização que desmembra bebês e estupra os corpos de moças assassinadas. Esta é uma tentativa de salvar o Hamas de si mesmo. Talvez os apologistas ocidentais do Hamas devessem ouvir as vozes árabes moderadas em vez de uma seita terrorista fundamentalista.
As atrocidades do Hamas colocam-no, tal como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, como uma abominação além da tolerância. Israel, como qualquer Estado, tem o direito de se defender, mas deve fazê-lo com muito cuidado e com o mínimo de perdas civis, e será difícil, mesmo com uma incursão militar total, destruir o Hamas. Entretanto, Israel tem de refrear as suas injustiças na Cisjordânia – ou arrisca-se a destruir-se a si próprio – porque, em última análise, tem de negociar com os palestinos moderados.
Assim, a guerra se desenrola tragicamente. Enquanto escrevo isto, o ataque a Gaza mata crianças palestinas todos os dias, e isso é insuportável. Enquanto Israel ainda lamenta as suas perdas e enterra os seus filhos, deploramos o assassinato de civis israelenses, tal como deploramos o assassinato de civis palestinos. Rejeitamos o Hamas, maligno e incapaz de governar, mas não confundimos o Hamas com o povo palestino, cujas perdas lamentamos enquanto lamentamos a morte de todos os inocentes.
No decorrer da história, por vezes acontecimentos terríveis podem abalar convicções fortes: Anwar Sadat e Menachem Begin fizeram a paz após a Guerra do Yom Kippur; Yitzhak Rabin e Yasser Arafat fizeram as pazes após a Intifada. Os crimes diabólicos de 7 de outubro nunca serão esquecidos, mas talvez, nos próximos anos, após a dispersão do Hamas, depois do Netanyahuismo ser apenas uma memória catastrófica, israelenses e palestinos possam traçar, em reconhecimento mútuo, as fronteiras dos seus estados, temperados por 75 anos de matanças e atordoados pela carnificina do Hamas num fim de semana.
Não há outro caminho.
(1) Orientalismo é um termo que descreve como os europeus se referem a territórios inexplorados no Oriente ou no Mundo Islâmico. Lugares como a Turquia, Oriente Médio e Norte da África são descritos como exóticos ou até lugares ficcionais.