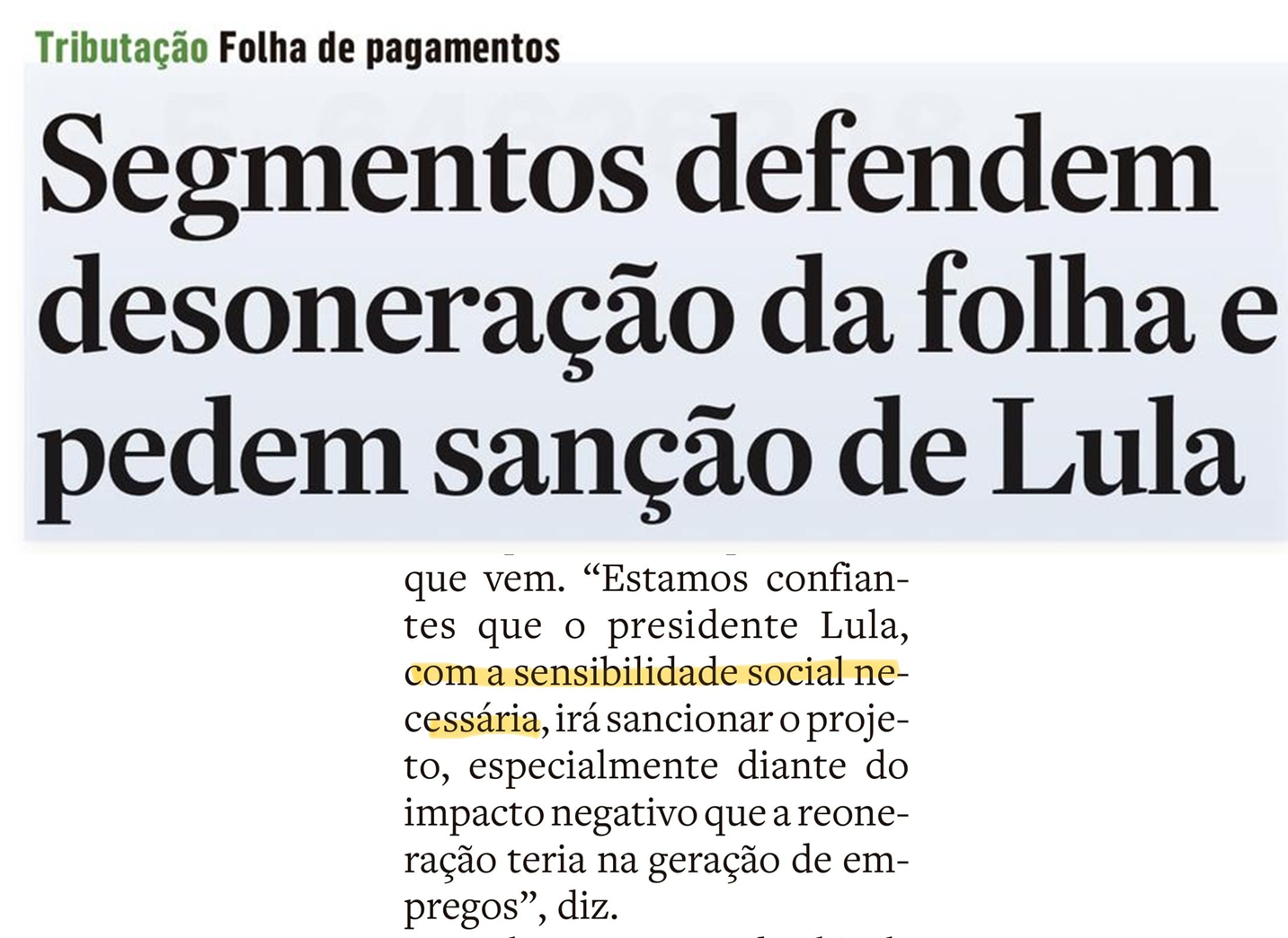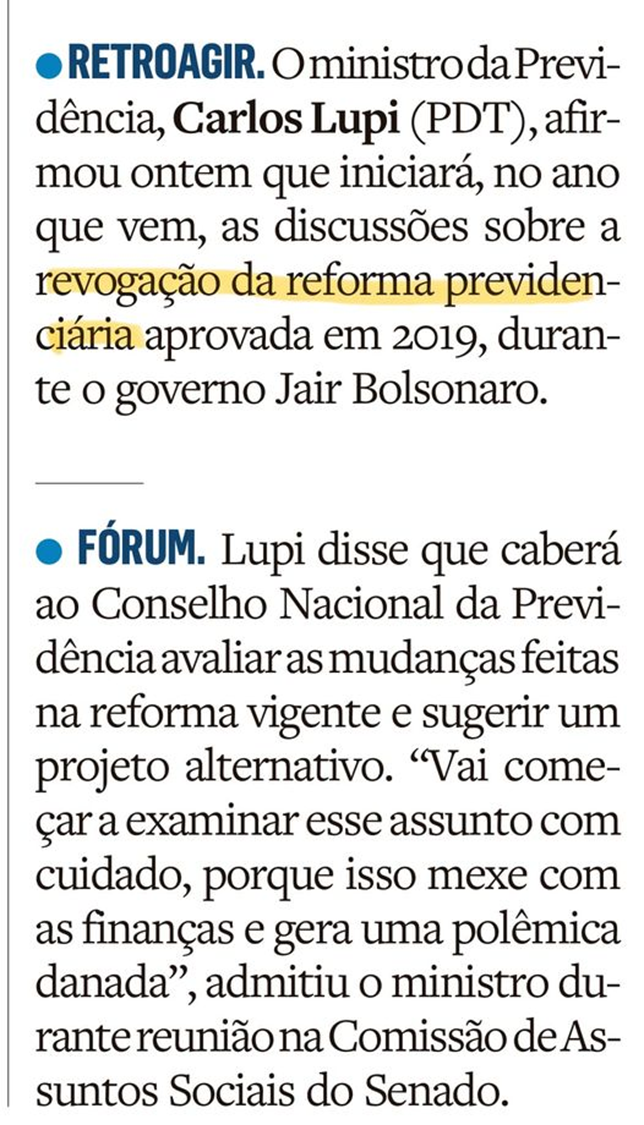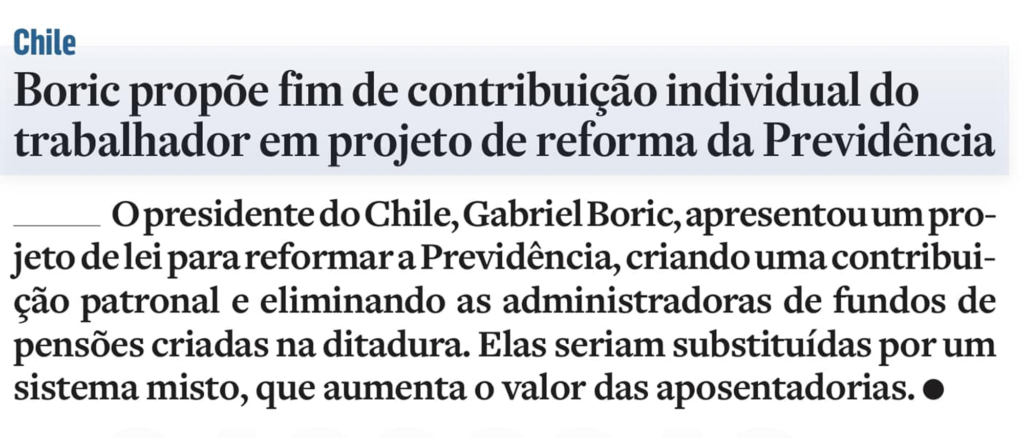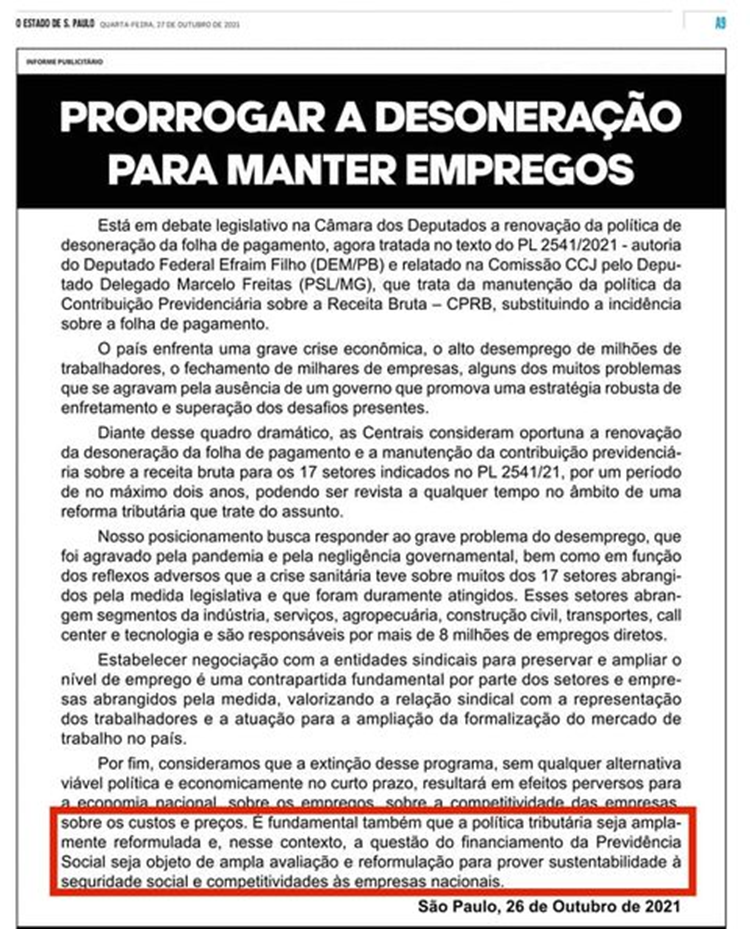Ontem, como parte da pesquisa para escrever meu próximo livro, assisti a um Roda Viva de dezembro de 1993, com o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Além de ser engraçado ver jornalistas como Miriam Leitão, Carlos Alberto Sardemberg e Celo Ming 30 anos mais jovens, foram vários os aspectos interessantes do programa, alguns servindo como parâmetro para os desafios que temos hoje. Vejamos.
– É curioso ver como aqueles jornalistas experimentados não conseguiam entender a lógica da URV, unidade de conta que entraria em vigor 3 meses depois. Enquanto os jornalistas tentavam entender como seria o “dia D” da entrada do novo padrão monetário, FHC tentava explicar que não haveria “dia D”. Ao contrário dos planos econômicos anteriores, o governo não determinaria nada, a não ser o valor do salário mínimo em URV. O resto seria livremente pactuado entre os agentes econômicos, o que era uma novidade de difícil entendimento, por fugir completamente à lógica de um Estado interventor na atividade econômica.
– Também é curioso notar como todas as cifras eram denominadas em dólares. Era a confissão implícita do fracasso monetário brasileiro. Quando até o próprio ministro da Fazenda expressa os números do orçamento nacional em uma moeda estrangeira, é que a moeda virou uma peça de ficção. Isso é inimaginável hoje em dia, e uma grande prova de quanto evoluímos neste aspecto.
– O plano Real tinha três etapas, sendo que a primeira era alcançar um “equilíbrio fiscal” das contas públicas. FHC afirmava que, sem essa primeira etapa, a introdução da URV e, depois, do próprio Real, seriam inviáveis. Para tanto, havia um pacote de ajuste a ser aprovado no Congresso, no valor de US$ 22 bilhões. Segundo dados do FMI, o PIB brasileiro, no final de 1993, era de US$ 430 bilhões. Ou seja, o déficit estimado era de aproximadamente 5% do PIB! Hoje, estamos tentando zerar um déficit que, este ano, deve ser algo em torno de 2% do PIB. A tarefa parecia bem mais complexa do que é hoje. Mas, não é bem assim por três motivos: acurácia dos números, carga tributária e flexibilidade do orçamento. É o que veremos nos três itens a seguir.
– Um dos jornalistas lembrou que o ex-ministro Dilson Funaro esteve ali, no mesmo programa, afirmando que havia sido enganado quando lhe afirmaram que o déficit havia sido zerado. Na verdade, Funaro não havia sido enganado. É que ninguém sabia mesmo qual era o déficit naquela barafunda das contas públicas brasileiras, em que a inflação e ralos dos mais diversos tipos e tamanhos contribuíam para a zona. Talvez a coisa tivesse melhorado um pouco nos anos seguintes, mas é duvidoso afirmar que havia uma compreensão completa do orçamento como temos hoje. Então, provavelmente, FHC deve ter colocado um coeficiente de segurança nos números. Tanto que, em determinado momento do programa, Celso Ming questiona o montante com base em algumas premissas, e FHC sai pela tangente.
– Perguntas dos telespectadores (por fax!) chegavam, e a maioria versava sobre o aumento de impostos do pacote. Nesse momento, FHC afirma que o brasileiro não quer pagar imposto para manter os serviços públicos que reivindica, e que a carga tributária no Brasil era baixa: 18% do PIB no nível federal, 4% do PIB nos níveis sub-nacionais. Como sabemos, o ajuste fiscal brasileiro, desde então, foi feito por aí: a carga tributária saiu de 22% para os atuais 34% do PIB. E, mesmo assim, ainda rodamos com déficit. O que demonstra que as necessidades do Estado brasileiro sempre aumentarão e ultrapassarão a capacidade do mesmo Estado de arrecadar impostos. Hoje, a saída adotada por FHC de aumentar a carga tributária parece ser mais difícil, mas não impossível.
– FHC citou dois grandes números importantes em sua entrevista: 20% das despesas do governo eram com pessoal e 20% eram com aposentadorias. O governo ainda gastava 40% do seu orçamento com outros itens obrigatórios e tinha somente 20% de espaço para gastos discricionários. Segundo FHC, esses 20% eram muito pouco espaço para o governo fazer suas políticas, de modo que o pacote fiscal incluía algum nível de desvinculação de receitas. Pois bem: esses números hoje são os seguintes: os mesmos 20% para os funcionários públicos, 45% para aposentadorias, 30% para outros gastos obrigatórios e 5% para gastos não obrigatórios. Não por outro motivo, a primeira coisa que fez o governo Lula foi aprovar um pacote de gastos adicionais de R$ 200 bi, pois aqueles 5% não dão para nada. Hoje, o orçamento público é absolutamente engessado, e a questão das aposentadorias vai somente piorar ao longo do tempo, comendo uma parte cada vez mais relevante dos impostos pagos. A situação, hoje, é muitas vezes pior do que na época de FHC.
O Plano Real foi apenas o início, não o fim, do processo de estabilização. Várias iniciativas foram realizadas para recolocar as contas públicas nos eixos, desde o fechamento dos bancos estaduais, passando pelas grandes privatizações até a LRF e o estabelecimento de um comitê de política monetária independente. Voltamos para trás na disciplina dos entes sub-nacionais e não avançamos em outros pontos, como o equacionamento da previdência (a reforma foi muito pouco, muito tarde). A inflação, que servia para fechar as contas que não fechavam, parece domada. Mas, se não pactuarmos uma forma de financiar o orçamento, é questão de tempo para que volte. Primeiro, devagar. Depois, de repente.