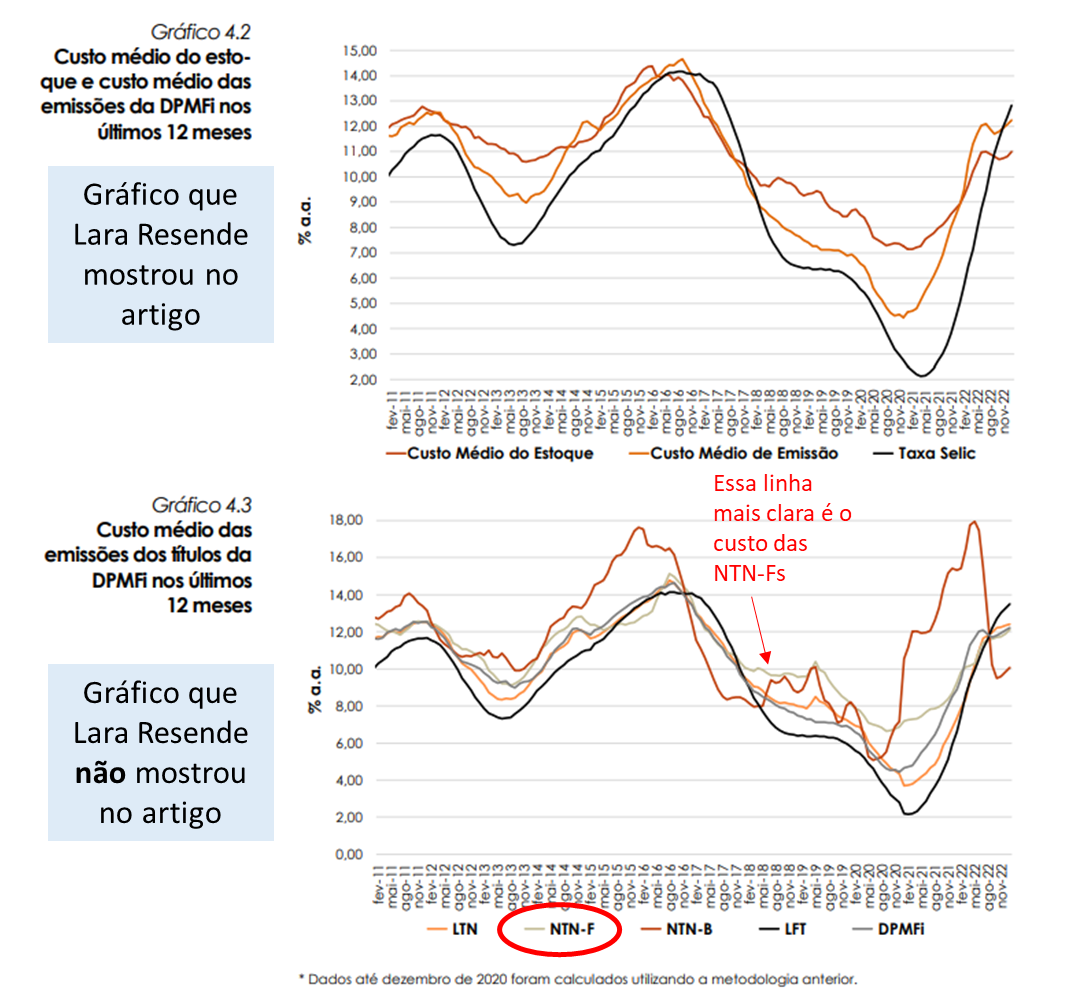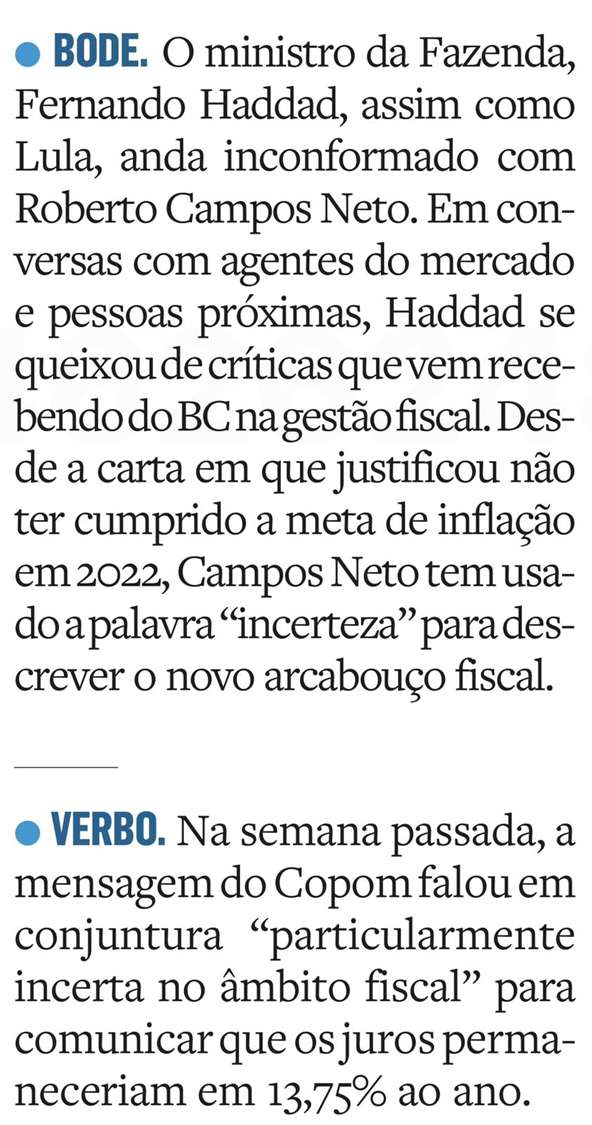Algum tempo atrás, o câmbio era o inimigo número um dos empresários. O real estava sempre no “nível errado”, impossibilitando o desenvolvimento do país. Hoje, esse papel passou a ser exercido pelo nível da taxa Selic.
Em ambos os casos, os empresários miram em algo que está fora do alcance do governo resolver. Ou melhor, algo que o governo pode resolver, mas não na base da canetada. Os empresários deveriam estar pedindo ao governo que estabeleça as condições necessárias para termos uma taxa de juros mais baixa, principalmente no que se refere ao equilíbrio fiscal. Estamos hoje na situação em que o Banco Central tira água de um barco com um furo no casco que o governo faz questão de alargar. Os empresários deveriam estar pedindo para que o governo tape o buraco, não que o BC pare de tirar a água.
Há alguns anos, ainda no primeiro governo Lula, estava eu conversando com um amigo meu, pequeno industrial, que me disse mais ou menos o seguinte: “o Banco Central precisa baixar a taxa de juros. Um pouco mais de inflação não tem problema, desde que tenhamos um pouco mais de crescimento”. Era a época do BC do Meirelles ortodoxo, que elevou a taxa de juros até 26,5% sem que Lula desse um pio.
Esse meu amigo foi sincero. Implícito no pedido dos empresários está exatamente essa premissa (errada, já veremos) de que “um pouco mais de inflação” é tolerável. Pode notar: em nenhuma dessas manifestações de empresários aparece a palavra “inflação”. No máximo, quando aparece, é para dizer que a inflação não é “de demanda” e, por isso, a ação do BC seria inócua. O que vem a dar no mesmo, ou seja, deixa a inflação correr solta, dado que nada é capaz de contê-la.
Por que a premissa do meu amigo é errada? Simples: não há crescimento econômico sustentável sem uma inflação em níveis civilizados. – Ah, mas 4% é um nível civilizado! Sim, verdade. Mas quem disse que a inflação para em 4%? Quando chegar lá, se o barco ainda tiver um buraco no casco, o BC vai precisar tirar água do mesmo jeito. Caso contrário, a inflação não para em 4%. O trade-off entre inflação e crescimento pode ser verdadeiro no curto prazo, mas não como política permanente. E o curto prazo, como o próprio nome diz, acaba rápido, como já deveríamos saber de cor depois de décadas de políticas populistas.
O alvo de empresários como Luiza Trajano está errado. Se gastassem suas energias para pressionar o governo a fazer a sua lição de casa, tapando o buraco do barco, talvez pudéssemos ter algum resultado positivo. Mas acho que é esperar demais.