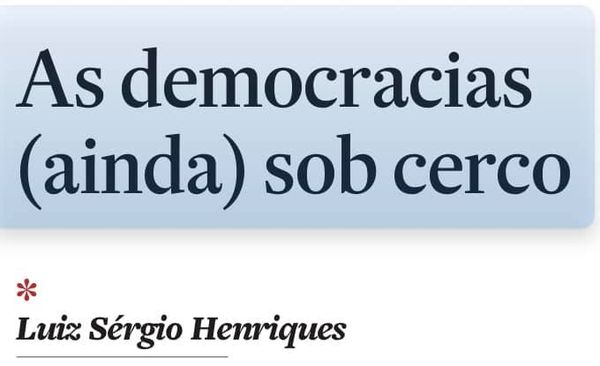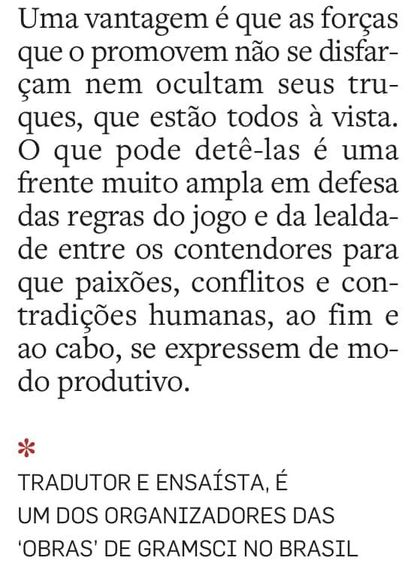Benjamin Netanyahu, ao lado de Donald Trump e Jair Bolsonaro, forma o “eixo do mal” iliberal antidemocrático, exorcizado diuturnamente nas tertúlias vespertinas da Globo News e, de resto, por toda a mídia liberal (no sentido americano) global. Não fosse por Netanyahu, árabes e israelenses viveriam lado a lado em paz e harmonia, como o leão e o cordeiro bíblicos, em uma terra onde correria o leite e o mel. Mas o ultradireitista Netanyahu, aliado aos religiosos ultraortodoxos, estaria sabotando esse mundo idílico por pura maldade.
Bem, a história seria assim se fosse assim. Israel nasceu socialista. Os kibutz eram experimentos de vida comunista, o que, obviamente, não deu certo. O primeiro primeiro-ministro não de esquerda de Israel foi Menachen Begin, eleito em 1977, quase 30 anos depois da formação do Estado. Antes dele, Israel já tinha ocupado Jerusalém Oriental, Gaza, Cisjordânia e as colinas do Golã na guerra dos 6 dias, em 1967, marco inicial da lenda de Israel como “potência ocupante e colonizadora das terras palestinas”. Ou seja, 10 anos antes do primeiro primeiro-ministro conservador, Israel já era um pária da comunidade internacional. Netanyahu é apenas a resposta à preocupação número 1 dos israelenses, a sua própria sobrevivência como Nação. Os ataques de 07/10 poderão fazer os cidadãos israelenses reverem esse ponto de vista, mas esse é um problema do futuro.
É nesse contexto que a reforma do judiciário proposta por Netanyahu deve ser entendida. A coisa não é preto no branco, como querem fazer crer os jornalistas da Globo News. Tanto não é, que a reforma foi derrotada na Suprema Corte por uma margem apertadíssima, 8×7. A reforma veio ao encontro dos anseios de parte relevante da população israelense, que vê abusos de autoridade da Suprema Corte, que tem tradição liberal (de esquerda). Assim, a reclamação que Netanyahu verbaliza é que a direita ganha a eleição mas não consegue governar, quem realmente governa é a Suprema Corte. É este equilíbrio institucional que está em jogo.
De qualquer modo, essa votação, em plena campanha em Gaza, mostra que a democracia israelense está alive and kicking. Tenho realmente muita curiosidade por saber o que pensam os altos magistrados do Irã, da Arábia Saudita, da Síria e da Autoridade Palestina a respeito de seus governos.