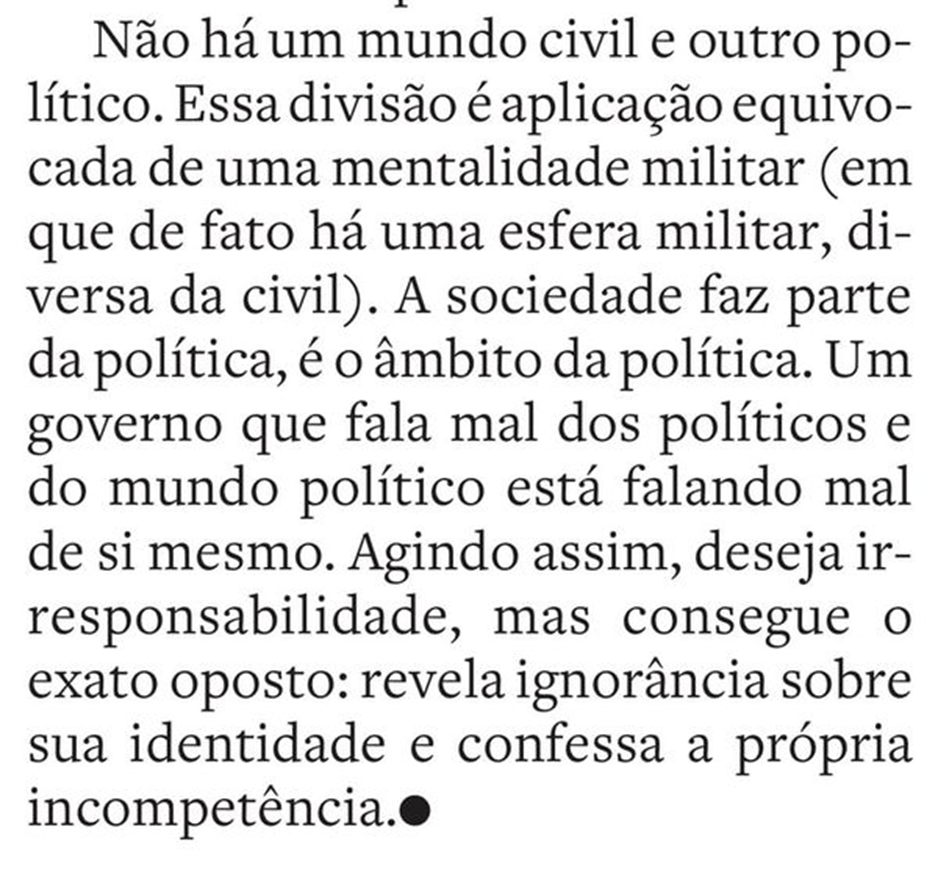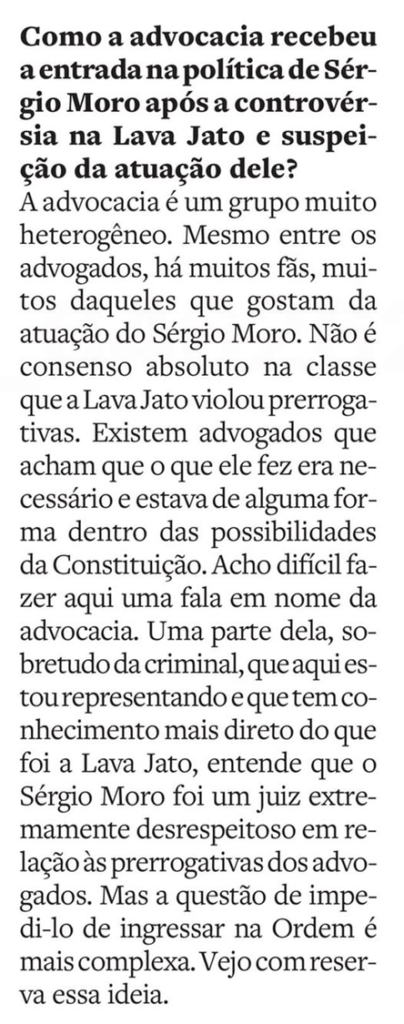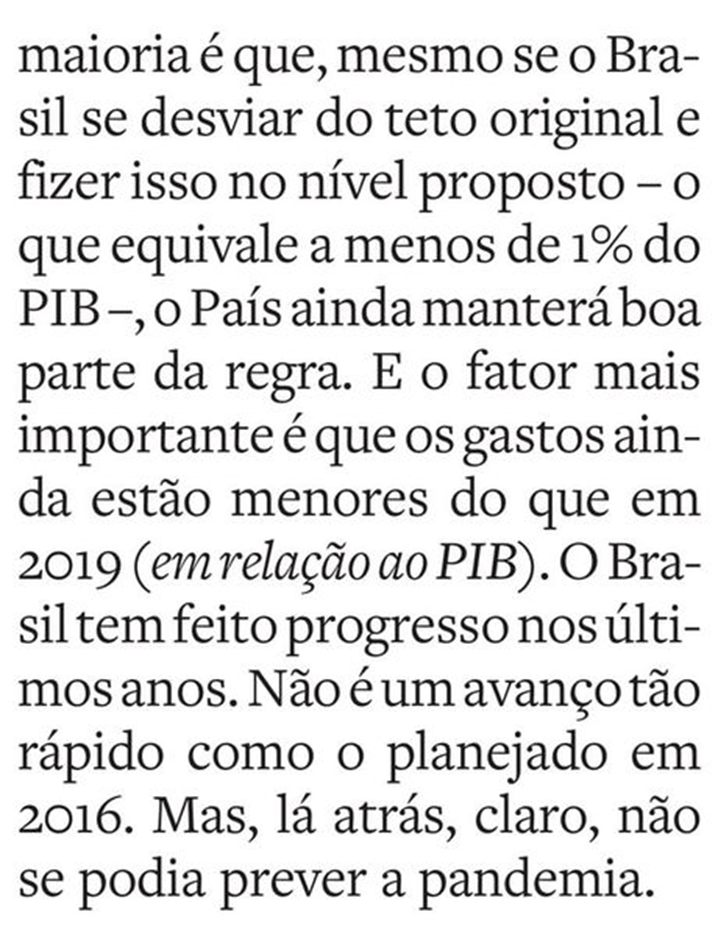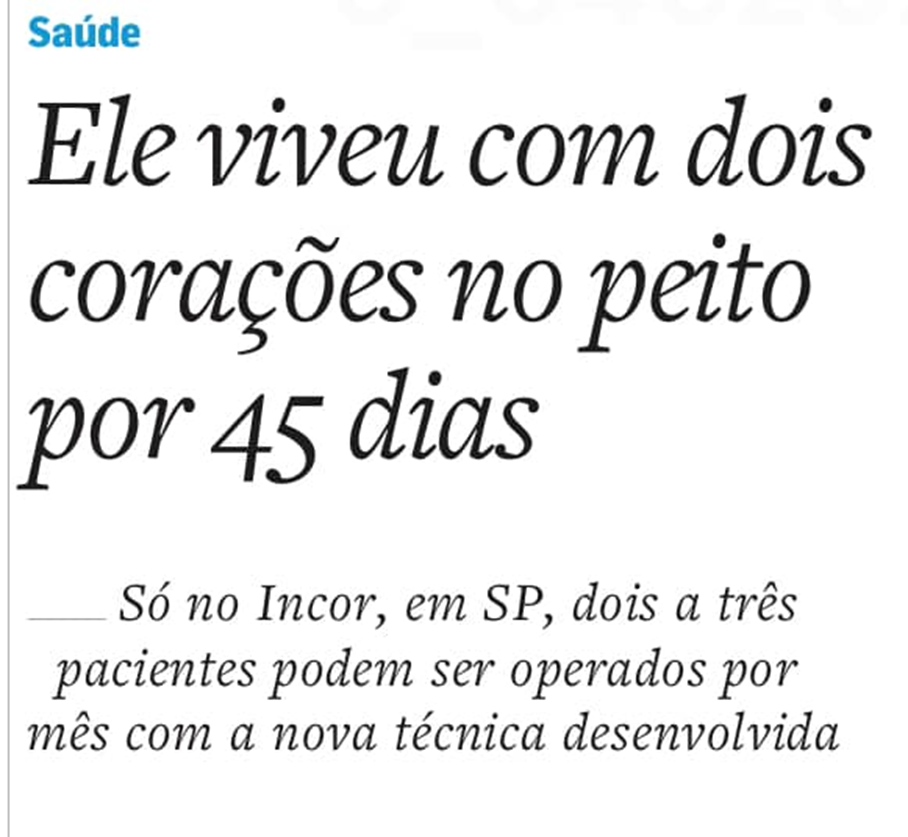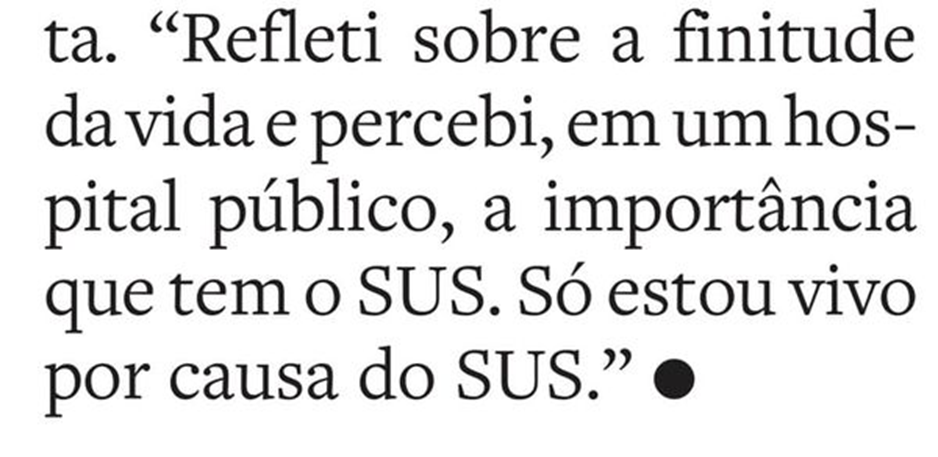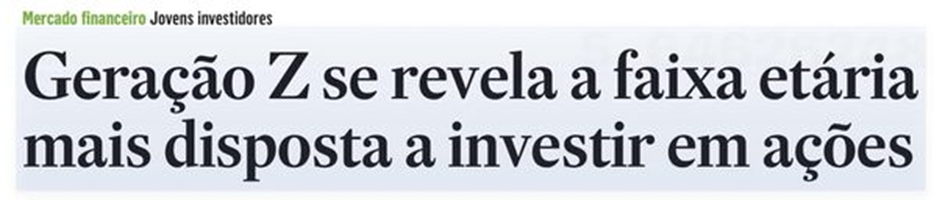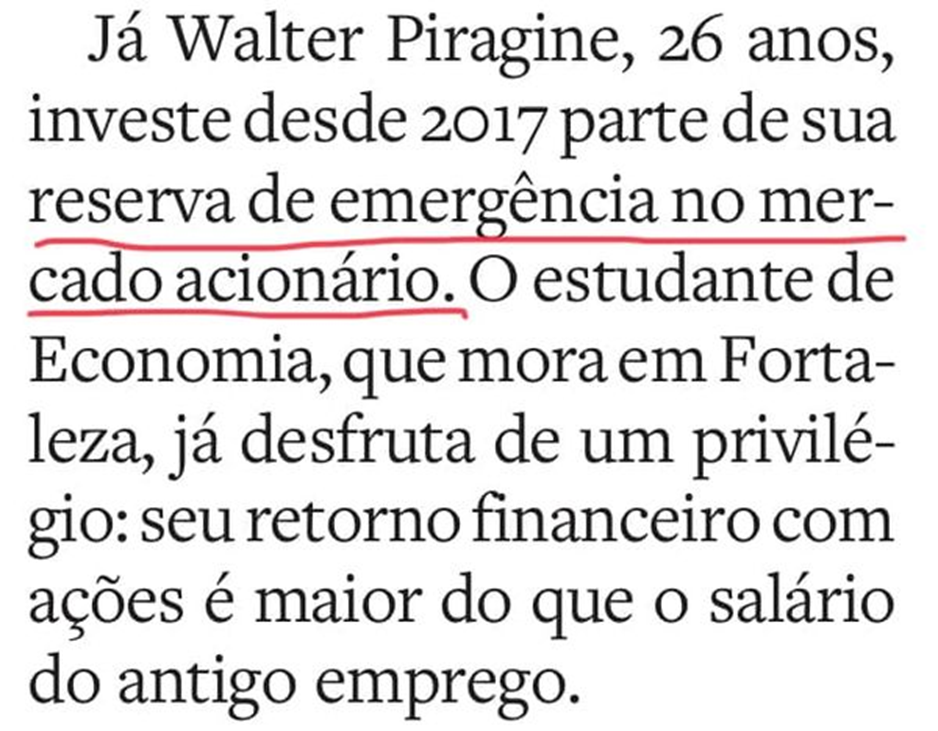Coluna do advogado Jairo Saddi, no Valor Econômico de hoje (Quase adimplência, aqui, para assinantes), chama a atenção para a nova lei do superendividamento (Lei 14.181 de 01/07/2021), que altera o Código de Defesa do Consumidor, acrescentando dois capítulos, um sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento e o outro sobre a conciliação no superendividamento.
Antes de entrarmos nas novidades da nova lei e no conteúdo da mencionada coluna, convém entender qual o conceito de superendividamento. Segundo a nova lei:
“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
Começa aí o problema dessa nova lei. O que seria esse “mínimo existencial”? Cada juiz fará um juízo sobre o “mínimo existencial” de cada litigante. O que é “mínimo existencial” para um favelado não é o “mínimo existencial” para uma pessoa da classe média. Ou o juiz dirá para o litigante da classe média que ele muito bem pode viver em um barraco na favela, pois há pessoas que vivem assim? Ou, vice-versa, o juiz exigirá que o “mínimo existencial” para um favelado seja o mesmo que o é para uma pessoa da classe média?
Claro, o juiz poderá usar como parâmetro o padrão de vida atual do litigante para tomar essa decisão. Mas esse padrão de vida foi construído com base no superendividamento. Então, será esse padrão de vida atual o “mínimo existencial”? Quantos degraus no padrão de vida atual terá que descer o litigante para que ainda seja considerado respeitado o “mínimo existencial”? Essa exigência do “mínimo existencial” é quase como se garantir, por lei, que ninguém será pobre no país. A intenção é boa…
Alguns dispositivos da lei são positivos, principalmente no que se refere à transparência exigida em todas as operações de crédito. No entanto, arrisco dizer que são dispositivos quase inócuos. Quem, no Brasil, lê contrato? Talvez tenha mais gente que leia bula de remédio ou manual de eletrodoméstico. A transparência servirá, quando muito, como um álibi perfeito para a financeira que concedeu o crédito, pois não poderão acusá-la de fazer coisas “escondidas”.
Um outro dispositivo da lei é primo irmão do “mínimo existencial”. Trata-se da obrigação de
“avaliar, de forma responsável, as condições de crédito do consumidor, mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados“
Há, de fato, financeiras por aí que prometem crédito mesmo para aqueles que estão com o “nome sujo” na praça. Isso significa que, mesmo aqueles negativados nos birôs de crédito podem obter financiamento nesses lugares. O que a nova lei diz é que o crédito somente poderá ser concedido após uma “avaliação responsável das condições de crédito do consumidor”. O que seria uma “avaliação responsável”? Como o juiz julgará essa avaliação?
Note que a lei não proíbe a concessão de crédito para negativados. Se assim fosse, não haveria dúvida: você está negativado, trate de procurar seu cunhado para pedir dinheiro, pois o sistema financeiro está fechado para você. No caso, não há essa proibição. Então, qualquer financeira poderá dizer que fez a avaliação de crédito, inclusive consultando os birôs, e avaliou que poderia conceder o crédito. Com base no quê o juiz dirá que não foi assim? Em uma perícia técnica? A perícia técnica é quem vai determinar o risco de crédito do sistema de agora em diante? Neste caso, seria melhor fechar os departamentos de crédito das financeiras e contratar peritos técnicos para a tarefa. Enfim, temos aqui, a exemplo do “mínimo existencial”, mais um caso de boas intenções com dificílima aplicação prática. Quer dizer, aplicação prática à discrição do juiz, o que não causa pequenos problemas, como veremos mais à frente.
Falando em boas intenções, esta lei está cheia delas. Mas falta, em minha opinião, o conceito correto de dívida, o que leva a esse Frankstein que vai prejudicar, em última análise, os próprios endividados.
Em meu livro Finanças do Lar, dedico um capítulo às dívidas. Elas fazem parte da vida, impossível não tê-las. O truque é usá-las a seu favor. E como fazer das dívidas nossas aliadas? Só tem um jeito: disciplina financeira.
Disciplina financeira é saber quanto se ganha e quanto se gasta, garantindo que a primeira parte seja constantemente maior do que a segunda. Isso inclui os gastos correntes e as prestações das mercadorias compradas a prazo. Quem não faz esse controle acaba por viver uma vida irreal, com um padrão de vida acima de suas possibilidades. Excetuando-se os raros casos em que uma pessoa entra em dívidas por causa de um acidente sério de percurso, a grande maioria dos casos de superendividamento ocorre por descontrole financeiro. E, mesmo nos casos de acidentes, a pessoa deveria ter pensado em uma reserva de emergência antes de mais nada. Ser pego desprevenido por uma despesa não prevista também é sinal de falta de planejamento.
A lei toca neste ponto fundamental:
“O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas“.
Muito bom, a menos da contradição implícita: ora, se a lei condiciona os seus efeitos a que o consumidor não contraia mais dívidas, está necessariamente forçando uma diminuição de seu padrão de vida. E se o consumidor já estiver no limiar do “mínimo existencial”, que somente pode ser sustentado por mais dívidas? Haja critério…
O fato é que, por trás dessa lei, há uma contradição insanável, tocada inconscientemente pelo advogado Jairo Saddi, na coluna mencionada no início deste post: o efeito concreto da lei é o perdão das dívidas, colocando fim na situação de superendividamento. Ora, se a pessoa não está mais superendividada, o que a impede de recomeçar novamente o ciclo dali a algum tempo? A lei cita dois anos como prazo para lançar mão novamente da lei, em caso de novo superendividamento. Dois anos, sério?
Saddi cita algumas providências que deveriam ser tomadas para, em suas palavras, “criar certos mecanismos dentro de uma estrutura institucional que permita flexibilizar o direito absoluto do credor“. Claro, o colunista sabe que estamos em um Estado de Direito, e que, portanto, “é sempre direito do credor receber aquilo que lhe é devido sob pena de causar incentivos indesejáveis“. Mas, sabe como é, a carne é fraca…
A fazer parte dessa “estrutura institucional que permite flexibilizar o direito absoluto do credor”, Jairo Saddi propõe o conceito de primariedade penal ou de bons antecedentes – o que supostamente livraria o devedor de ter que pagar suas dívidas -, alterações de indexadores e taxas de juros e a adoção de um limite mínimo de dívida, abaixo do qual não seria permitido negativar o inadimplente.
Todas essas medidas teriam como objetivo, como o colunista deixa claro no último parágrafo de seu artigo, “a redução da inadimplência, (o que) traria muitas vantagens ao sistema financeiro“. Aqui acho que está o âmago do mal entendimento do articulista e de quem fez a lei: a inadimplência não vai diminuir porque se perdoou a dívida. A inadimplência somente vai diminuir quando as pessoas pararem de gastar mais do que ganham. O que está sendo proposto é o perdão das dívidas, sem realmente tocar no núcleo do problema.
Comparo a coisa com o consumo de drogas. O viciado para de consumir drogas somente quando se interna em um rehab e adota a abstinência absoluta. E, para isso, é preciso reeducar-se, para que não caia novamente no vício depois de recuperado.
Nesse sentido, como deveria ser uma lei que realmente prevenisse o superendividamento? A única forma seria simplesmente proibir o empréstimo para pessoas que estivessem com score de crédito abaixo de determinado nível, atribuído por birô de análise de crédito. As referências a “mínimo existencial” e “crédito responsável” são remendos que efetivamente não resolvem o problema. Pior, dão margem à discricionariedade do juiz de plantão, o que pode, no final do dia, fazer com que as financeiras se retraiam mais do que o necessário, deixando na mão pessoas que ainda poderiam tomar crédito no mercado. No mínimo, as financeiras irão colocar no preço do dinheiro o “custo litigação” que esta nova legislação traz, fazendo com que todos paguem pela “segurança” dos superendividados.
Claro, seria ingenuidade achar que a simples proibição dos empréstimos para os superendividados resolveria o problema: assim como a proibição das drogas cria uma mercado paralelo milionário, a proibição de empréstimos para viciados em dívidas provavelmente criaria um mercado paralelo de agiotas não registrados no sistema financeiro. Hoje eles existem, mas não me parece ser um mercado relevante. Por outro lado, o perdão das dívidas também não garante que essas pessoas se tornarão disciplinadas. Pelo contrário, com o nome limpo, estarão livres para tomar novas dívidas, reiniciando o processo.
A lei do superendividamento tem como pressuposto que o culpado pelas dívidas são aqueles que emprestam e não aqueles que tomam emprestado. Ainda que possam existir práticas abusivas (e as há), já há leis que as coíbem e as punem. Essa lei do superendividamento, na prática, serve para disciplinar o perdão das dívidas, o que, em si, não contribui para o fim da inadimplência. No fim, nada substitui um bom rehab para uma mudança de vida. O resto é paliativo.