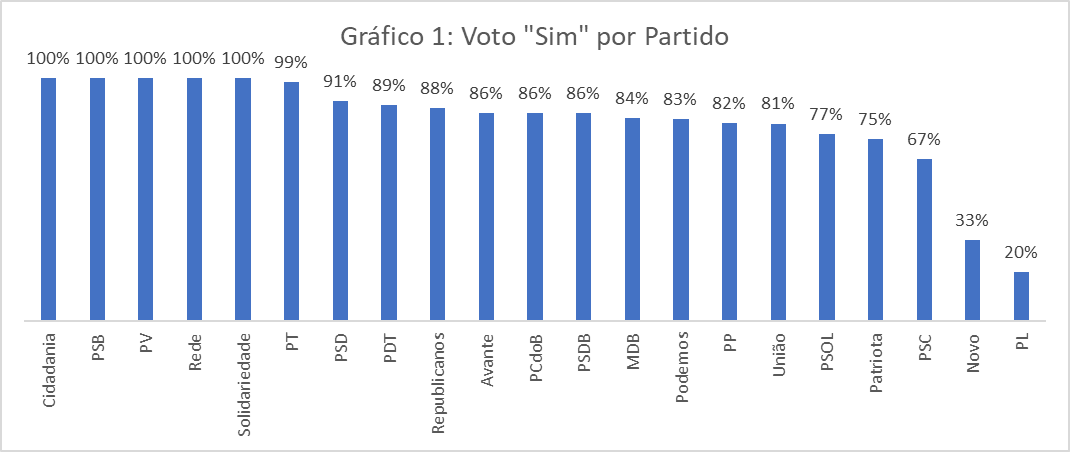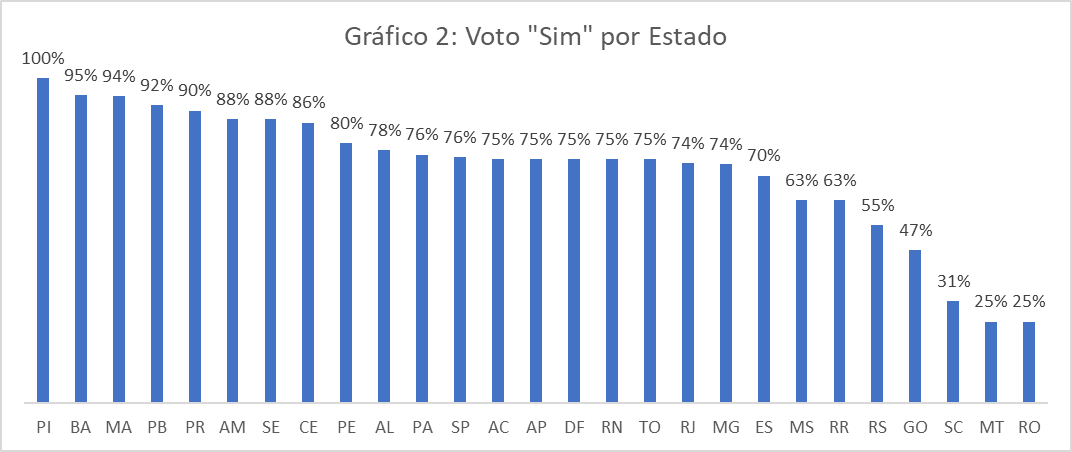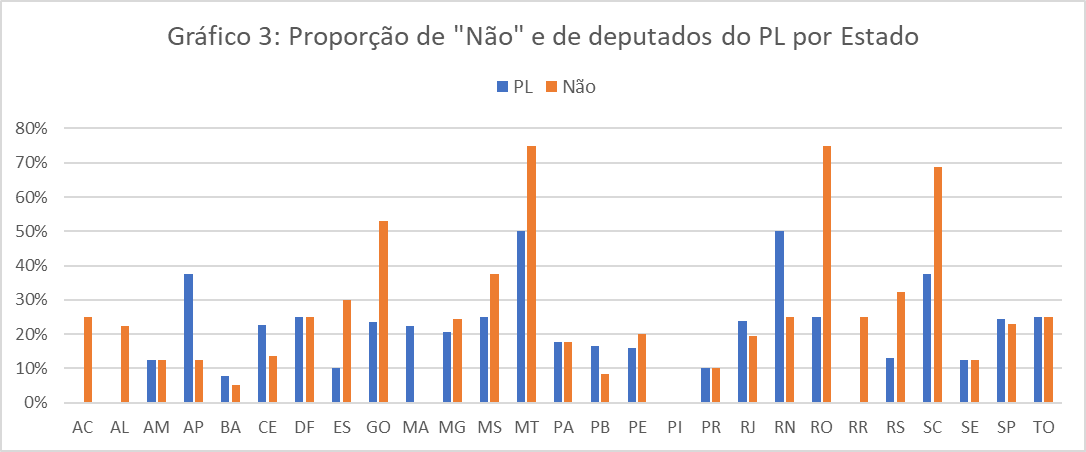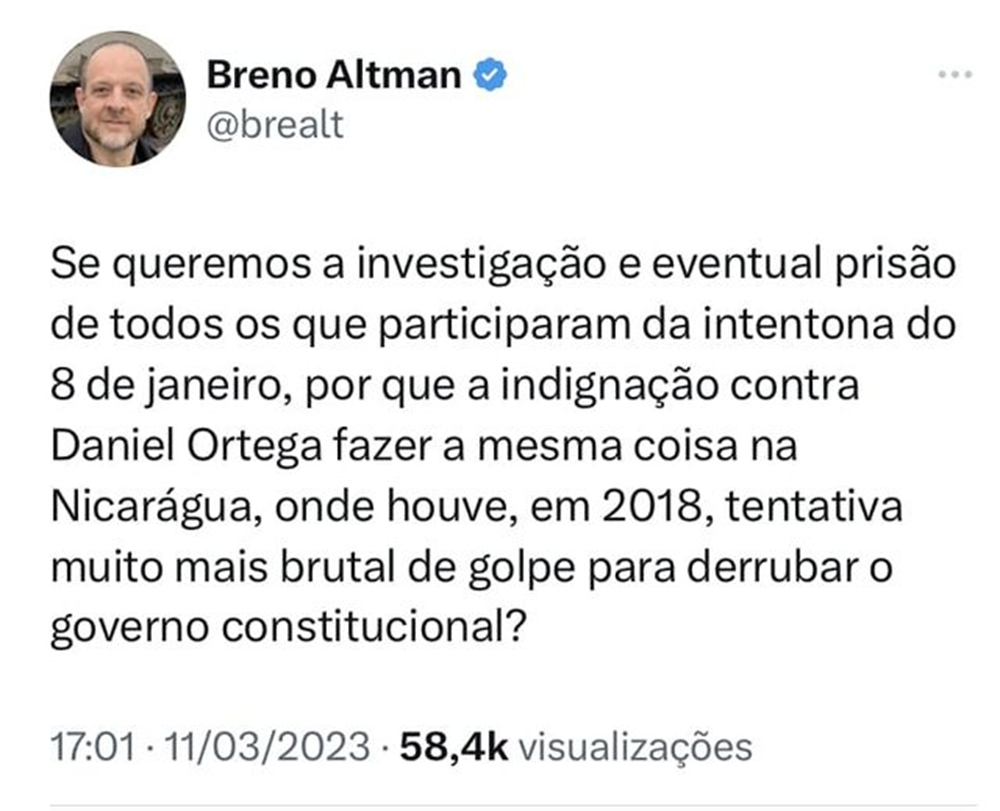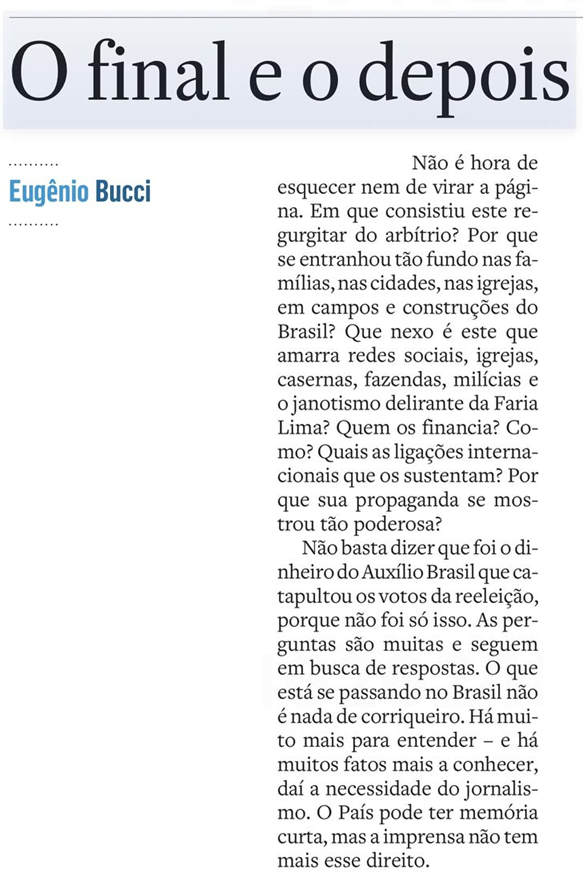Eugênio Bucci debruça-se sobre um problema nacional de primeira grandeza: o resgate das cores nacionais, sequestrada que foram pelos “machistas, racistas, xenofobos e mesquinhos”, ou pelas “tchutchucas e dondocas de classe média”, segundo suas palavras. Na avaliação de Bucci, os R$ 3 milhões que serão gastos no desfile de 7 de setembro em Brasília estão justificados, se forem usados para resgatar as cores da nacionalidade das mãos dos pérfidos bolsonaristas.
O jornalista lembra, com nostalgia, dos tempos em que o verde e o amarelo não representavam o “golpismo”. Cita as Diretas Já, uma canção de Chico Buarque, a redação da Capricho e o novo logo da Placar como exemplos do uso do verde e do amarelo que não significavam o que, em tese, significam hoje. O que aconteceu?
Sabemos o que aconteceu. Nada. As cores nacionais nunca foram, nem poderiam ser, monopólio de nenhum grupo. O verde e o amarelo sempre puderam ser usados por qualquer cidadão. Então, afinal, por que essa identificação que Bucci lamenta? Sinto dizer, Bucci, mas a culpa é, em boa parte, de vocês, jornalistas. No início, quando as cores verde e amarela tomaram as ruas em apoio ao impeachment de Dilma, não faltaram “análises” ironizando os “patriotas com a camisa da seleção”. Foram o PT e suas cracas na academia e nas redações que entregaram de mão beijada o simbolismo. Ao bolsonarismo, só coube receber o presente de braços abertos.
Obviamente, não serão R$ 3 milhões gastos em um desfile bolado por um marketeiro que irão resolver o “problema”. Agora, é preciso que esses mesmos que “mistificaram” o uso das cores, as “desmistifiquem”. No ano passado, quando Lula apareceu com a camisa da seleção para torcer na Copa do Mundo, a cobertura jornalística frequentemente citava o fato de que aquelas cores haviam sido usadas pelos seus oponentes. Cada menção a esse fato é mais uma regada no cultivo do simbolismo.
Mas há um porém adicional de grande importância. O símbolo do PT é uma estrela vermelha, ou uma estrela branca sobre um fundo vermelho. Fica difícil dissociar o partido dessa cor, ou associá-lo ao verde e ao amarelo. Nas últimas eleições, os marketeiros do PT dançaram miúdo para tentar diminuir o vermelho sem descaracterizar o partido. ISSO não tem como esconder: pode fazer o que for, a cor do PT sempre será vermelha. Mas o PSDB, que durante anos foi o oponente principal do PT em eleições majoritárias, e que tem o azul e o amarelo como cores predominantes, nunca usou esse fato a seu favor, talvez por achar esse artifício baixo demais. Afinal, como sabemos, o PSDB é um partido de gentlemen. Coube ao bolsonarismo usar as cores nacionais como simbolismo sem pudor, confundindo partidarismo com patriotismo.
Eugênio Bucci quer uma fórmula mágica para recolher a pasta para dentro do tubo. Ele mesmo não avança em nenhuma “solução” ou “estratégia”. Sinto dizer que, enquanto for o PT a liderar esse esforço, podem gastar muitos R$ 3 milhões, que isso não vai acontecer.