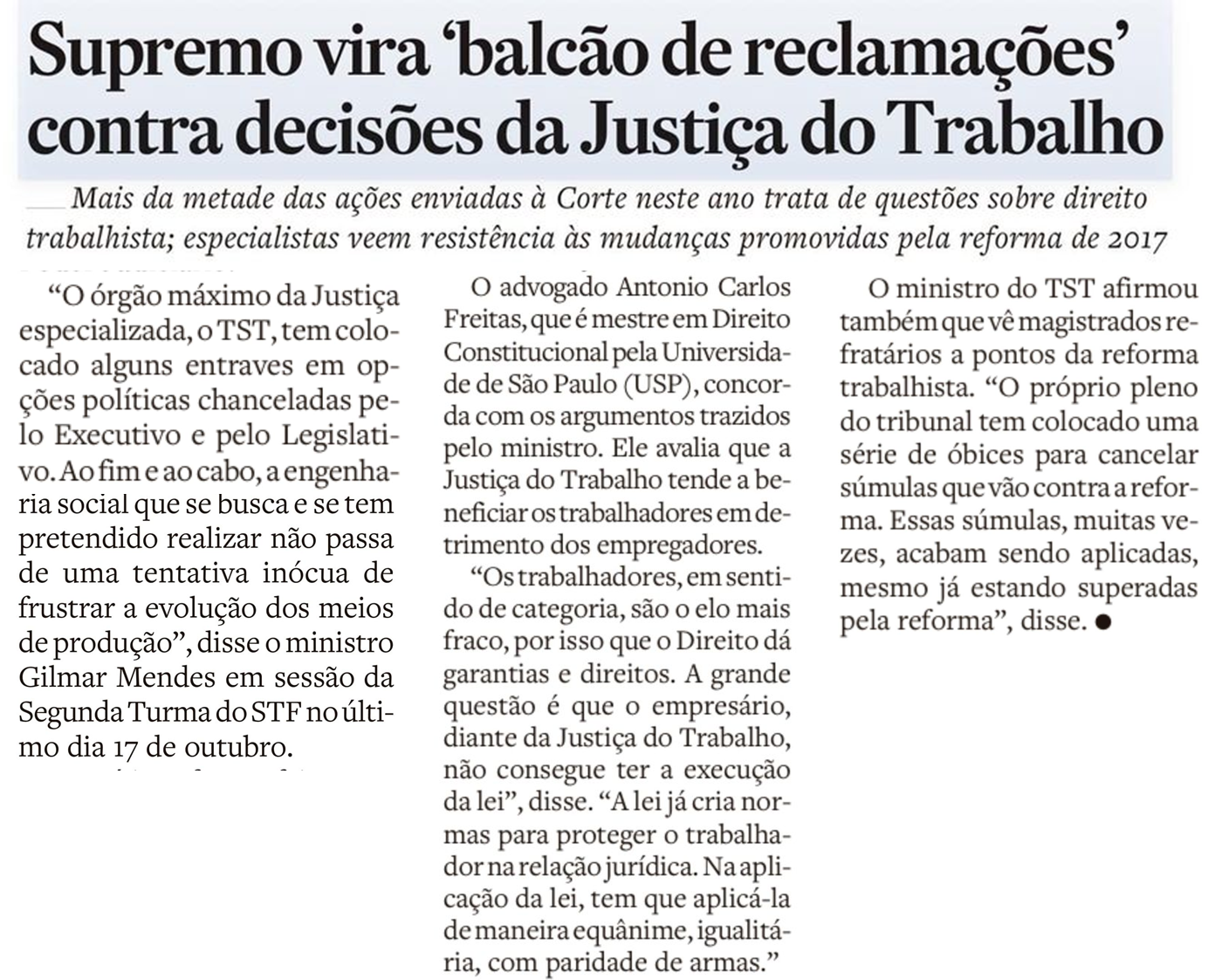Como leitor experimentado de jornal, já estou acostumado a notícias abordando temas sem importância alguma, mas apresentados como se fossem a última bolacha do pacote. Mas nessa aqui o Estadão se superou: um verdadeiro pastel de vento foi apresentado como um banquete em restaurante estrelado, merecendo manchete principal na capa e uma página inteira no caderno de economia. Vejamos.
Em primeiro lugar, a reportagem trata a notícia como se fosse uma mudança de política cambial, mas preservando o câmbio flutuante. Seria como que a terceira marca do novo governo na gestão macroeconômica, depois do arcabouço fiscal e da nova metodologia da meta de inflação, supostamente completando uma reforma do bem no tripé macroeconômico. Bem, seria assim se fosse assim. O “novo” arcabouço fiscal é um teto de gastos mas chama diferente (não é à toa que os petistas estão loucos da vida com o Haddad), a mudança de metodologia da meta de inflação é inócua, não muda nada, e este “seguro cambial” não muda em uma vírgula a política cambial, é só uma molezinha para empresários amigos. Vem comigo.
Seguros cambiais não são propriamente uma novidade. Aliás, bem longe disso. Todo exportador e importador têm à disposição uma gama imensa de instrumentos financeiros para se protegerem da variação cambial. A matéria diz (certamente repercutindo o que disse alguém do governo) que a volatilidade cambial é um dos principais entraves pelos quais o investidor estrangeiro não vem ao Brasil. Mentira. O investidor tem instrumentos para se proteger das variações do câmbio, mas, infelizmente, lhe faltam instrumentos para se proteger da insegurança jurídica, do pesadelo tributário, do baixo nível de preparo da mão de obra nacional e do ambiente de corrupção.
A reportagem afirma que um montante de US$ 3,4 bilhões estará disponível para fazer o seguro cambial daqueles interessados em investir na “agenda verde”. (Aliás, a mistificação não estaria completa se não envolvesse o combate às mudanças climáticas. Fecha parênteses). Uau, R$ 3,4 bilhões! Foram negociados em contratos futuros de dólar (o instrumento mais simples de proteção cambial) na B3 mais de US$ 10 bilhões. No ano passado? Não. Só no último dia 04/01, em uma semana meio morta para o mercado financeiro. US$ 3,4 bilhões? Sério?
Então, pra que serve isso? Simples. Como qualquer seguro, o seguro cambial custa alguma coisa. Não é de graça que você compra uma proteção. Para segurar o seu automóvel, por exemplo, você paga um prêmio. É assim que funciona. Os contratos futuros na B3 têm o custo da diferença entre as taxas de juros locais e as taxas de juros lá fora, enquanto swaps e opções têm, além disso, o spread cobrado pela instituição financeira que estrutura essas operações. Ao entrar na jogada, o BID vai baratear esse custo. Não se trata de oferecer um instrumento que não existe, mas de oferecer algo que já existe, só que mais barato. Soa familiar? Imagine quem vai ter acesso a esse dinheiro “mais barato”…
Enfim, mais um exemplo de como esse governo não passa de um circo de pulgas, em que coisas minúsculas são apresentadas como o maior espetáculo da Terra. O triste é ver o Estadão dar palco para esse tipo de coisa.