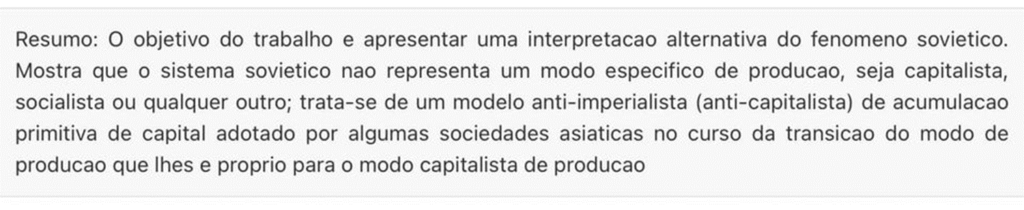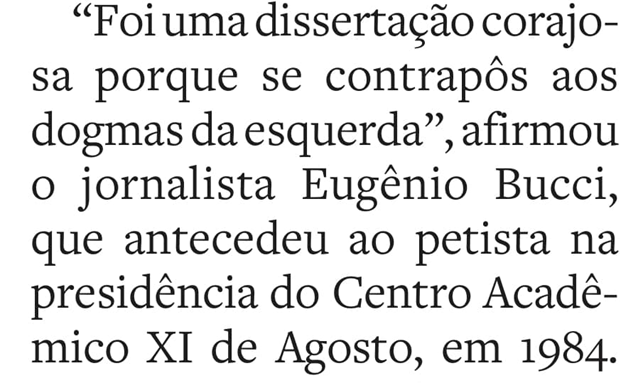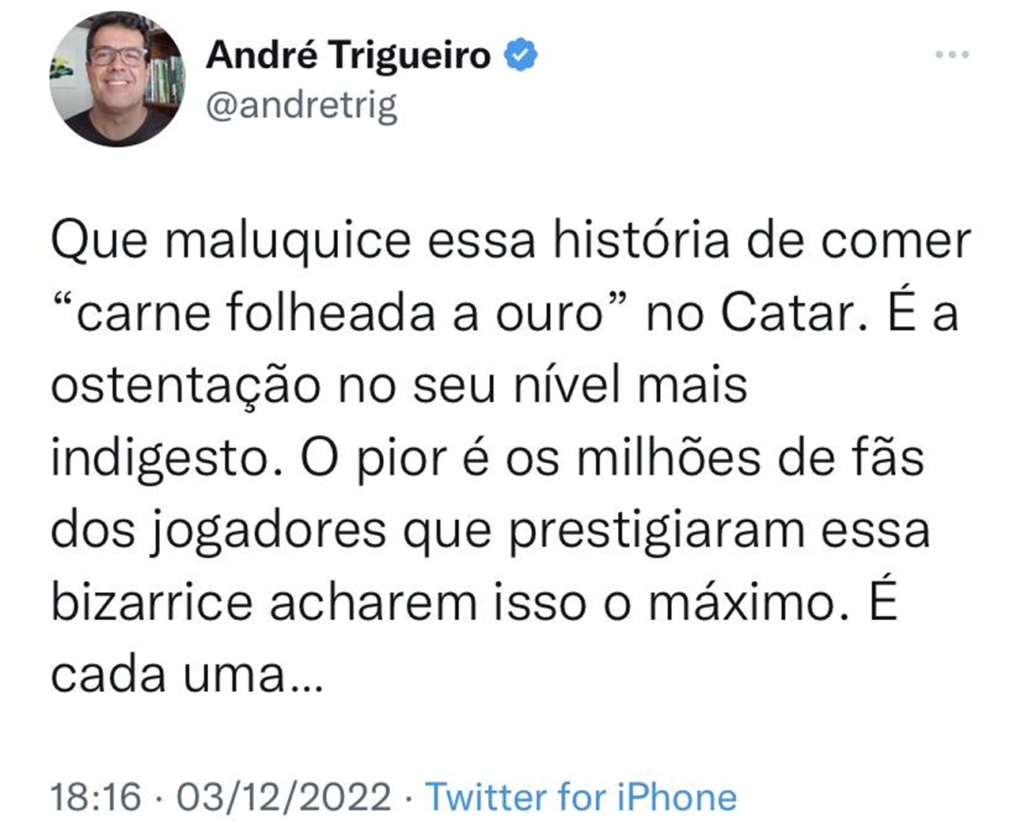Em artigo de hoje, José Serra defende a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) como o melhor regime fiscal para o Brasil. Segundo o ainda senador, o teto de gastos é uma excrescência que não tinha como dar certo, pois as despesas obrigatórias comprimem as discricionárias, acabando por inviabilizar o funcionamento do Estado brasileiro.

De modo a ancorar as expectativas sobre a trajetória da dívida pública, a LRF prevê dois dispositivos: metas de limite de dívida e de superávit primário. Serra cita a experiência da Nova Zelândia, segundo ele, o país fiscalmente mais responsável do mundo, e que usa justamente esses mecanismos. O problema com essas comparações internacionais está sempre na escolha de um aspecto isolado positivo, esquecendo-se do resto. Voltaremos a este ponto.
O senador erra ao apontar o dedo para o teto de gastos como o nosso principal problema na área fiscal. É como um obeso usar um cinto muito apertado para se forçar a fazer regime, e depois culpar o cinto por estar muito apertado. O problema, obviamente, não está no cinto, mas na falta de determinação de se fazer um regime.
Serra propõe uma solução mais “flexível”, prevista na LRF. Seria como que permitir que o obeso afrouxasse o cinto sempre que se sentisse apertado, confiando que a meta de emagrecimento de longo prazo será atingida. Qual a chance?
Aliás, mesmo sem uma meta de endividamento público, o sistema de metas de superávits primários funcionou muito bem na primeira década do século. Como as receitas cresciam, impulsionadas pelo super ciclo internacional de commodities, as despesas podiam crescer sem problemas, gerando superávits primários e diminuindo a dívida. Era uma época boa, em que o gordo podia comer à vontade, pois o seu metabolismo ajudava a manter, e até a melhorar, o seu peso. Passada essa época abençoada, vimos o que aconteceu: os superávits sumiram e a dívida explodiu. Não houve LRF que desse jeito. O limite de dívida, se houvesse, seria letra morta, diante das necessidades sempre urgentes do Estado brasileiro.
Serra olha para o modelito Nova Zelândia, e atribui a sua beleza ao tipo de cinto por ela usado. Não conheço de perto o país, mas sou capaz de apostar que lá as pessoas não se aposentam antes dos 60 anos de idade, as condições de estabilidade do funcionalismo são muito mais limitadas, a remuneração da nata do funcionalismo está mais alinhado ao que paga a iniciativa privada e o judiciário custa uma fração do que custa o nosso. Ou seja, o cinto flexível da Nova Zelândia funciona lá não porque o cinto seja melhor, mas porque a pessoa faz regime de verdade. Além disso, e não menos importante, a classe política da Nova Zelândia conta com um ativo valioso, quando se trata de promessas futuras: credibilidade. Qual a chance de o mercado comprar uma promessa de equilíbrio fiscal de longo prazo por parte dos políticos brasileiros?
Enquanto ficamos discutindo a natureza do cinto, o problema de fundo, que é um Estado que não cabe em nossa carga tributária, segue intocado. Podemos usar cintos das mais diversas cores, tamanhos e tipos de fivela. Enquanto não atacarmos o problema das despesas obrigatórias de frente, estaremos somente nos auto-enganando.