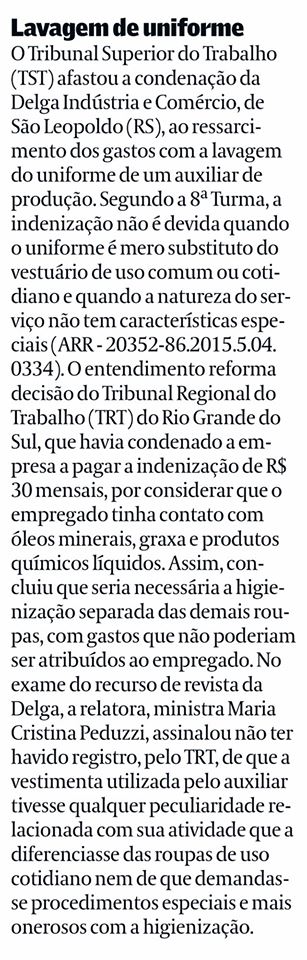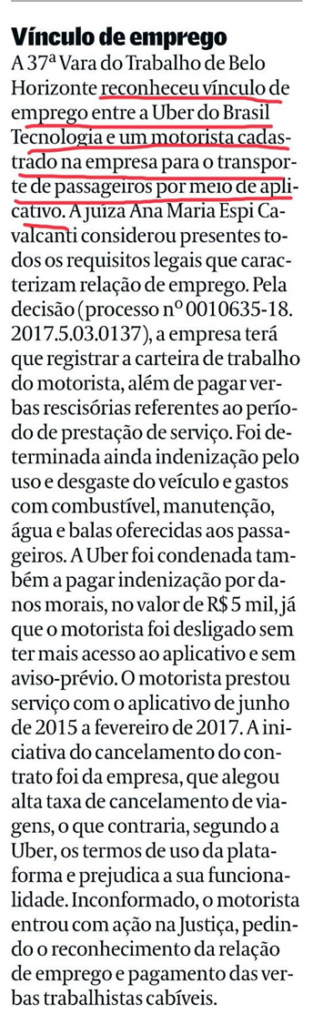Há poucos dias escrevi aqui sobre a interpelação do TCU ao governo federal a respeito das demissões na Ceitec, a empresa do “chip do boi”, que está sendo liquidada.
Também teve grande repercussão a decisão da justiça do trabalho a respeito das demissões na churrascaria Fogo de Chão, em que a empresa foi multada por demitir funcionários sem antes “negociar” com o sindicato.
Agora é o leilão da CEDAE que está suspenso pela justiça, pois não está claro qual o “destino” dos seus funcionários.

Estes três casos têm em comum a “proteção ao emprego” por parte da justiça. Não sendo jurista, vou me ater a analisar a coisa do ponto de vista econômico.
As empresas contratam funcionários para que produzam algo. Esse algo precisa ser vendido no mercado por um preço suficientemente alto para remunerar o funcionário e o capital investido pelo capitalista. A conta é muito simples: se a venda da mercadoria ou serviço produzido não for suficiente para remunerar o capital humano e o capital financeiro investido, o negócio fecha. É o que está acontecendo com a Ceitec e com o Fogo de Chão, por exemplo.
No entanto, antes de fechar, a empresa pode tentar se reestruturar. Reestruturar-se significa aumentar o lucro (ou voltar ao lucro) da operação. É o que está acontecendo com a CEDAE. Para tanto há duas alternativas: aumentar o preço de venda dos seus produtos ou aumentar a produtividade dos seus funcionários. A primeira não depende da empresa, depende do mercado. Por isso, é a segunda alternativa a normalmente adotada pelas empresas em reestruturação. Produzir mais com menos recursos é o caminho adotado pelas empresas para voltarem ao lucro.
Mas produzir mais com menos significa ter menos empregados. Daí as demissões que se seguem às restruturações das empresas.
Agora, digamos que a justiça resolvesse proibir, discricionariamente, demissões, sob a alegação de “proteger empregos”. O que aconteceria? As empresas em dificuldades não conseguiriam se reestruturar. Continuariam a operar com baixa produtividade, até que, em determinado momento, o sócio capitalista avalia que não vale mais a pena investir ali. Fecha o negócio e parte para outro investimento. Não sem antes ter transferido uma parte de seu capital para uma mão de obra de baixa produtividade, quando poderia estar investindo em negócios com produtividade maior, elevando a produtividade da economia como um todo.
Este é o efeito econômico mais relevante desse tipo de decisão: reduzir a produtividade global da economia, em um momento em que precisamos desesperadamente de mais produtividade. Quando dizemos que a renda/capita dos EUA é 5 vezes maior que a brasileira, estamos simplesmente reconhecendo que o americano produz 5 vezes mais do que o brasileiro. Por que trabalha mais? Não. Porque é mais produtivo, conta com formação melhor e tem à disposição mais capital físico e financeiro para produzir. E esse capital físico e financeiro surge do nada? Também não. Surge das oportunidades de lucro, que não estão ameaçadas, entre outras coisas, por decisões esdrúxulas da justiça.
Alguém poderia dizer que o capital poderia se contentar com lucros menores em favor de uma maior remuneração do capital humano. Essa é uma longa discussão. Do ponto de vista teórico isso não é recomendável por dois motivos. Primeiro porque, ao maximizar o lucro, o capital maximiza a produtividade da economia, o que é bom a longo prazo, inclusive porque permite a acumulação de capitais, o que fomenta novos investimentos, que, por sua vez, geram mais empregos. Em segundo lugar, o lucro deve remunerar também o risco do negócio. O lucro não é uma dádiva divina, ele pode não acontecer. Embutido na taxa de retorno requerida pelo capitalista está o risco de não ver o seu dinheiro de volta. É o velho ditado, “eles veem as pingas que eu tomo mas não veem os tombos que eu levo”. Isso é do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, sou capaz de apostar que uma boa parte desses juízes do trabalho investem em bolsa ou em fundos de investimento e exigem o máximo retorno possível. Talvez não façam relação entre o retorno de seus investimentos e o lucro das empresas, trata-se de um raciocínio muito sofisticado. Mas não tenho dúvida de que não estão dispostos a abrir mão de um centavo sequer da remuneração de seus investimentos. O “capitalista” é sempre o outro.
Ao “proteger empregos” pouco produtivos, a justiça brasileira diminui a produtividade geral da economia brasileira e, deste modo, paradoxalmente, dá a sua cota de contribuição para que o desemprego geral seja mais alto. Sim, porque o escasso capital que ainda se aventura a fazer negócios por aqui fica sequestrado por uma pauta “social”, ao invés de buscar oportunidades mais rentáveis, que estariam gerando empregos mais produtivos. Já escrevi isso aqui e repito: a nossa pobreza não é improvisada.
Há poucos dias escrevi aqui sobre a interpelação do TCU ao governo federal a respeito das demissões na Ceitec, a empresa do “chip do boi”, que está sendo liquidada.
Também teve grande repercussão a decisão da justiça do trabalho a respeito das demissões na churrascaria Fogo de Chão, em que a empresa foi multada por demitir funcionários sem antes “negociar” com o sindicato.
Agora é o leilão da CEDAE que está suspenso pela justiça, pois não está claro qual o “destino” dos seus funcionários.
Estes três casos têm em comum a “proteção ao emprego” por parte da justiça. Não sendo jurista, vou me ater a analisar a coisa do ponto de vista econômico.
As empresas contratam funcionários para que produzam algo. Esse algo precisa ser vendido no mercado por um preço suficientemente alto para remunerar o funcionário e o capital investido pelo capitalista. A conta é muito simples: se a venda da mercadoria ou serviço produzido não for suficiente para remunerar o capital humano e o capital financeiro investido, o negócio fecha. É o que está acontecendo com a Ceitec e com o Fogo de Chão, por exemplo.
No entanto, antes de fechar, a empresa pode tentar se reestruturar. Reestruturar-se significa aumentar o lucro (ou voltar ao lucro) da operação. É o que está acontecendo com a CEDAE. Para tanto há duas alternativas: aumentar o preço de venda dos seus produtos ou aumentar a produtividade dos seus funcionários. A primeira não depende da empresa, depende do mercado. Por isso, é a segunda alternativa a normalmente adotada pelas empresas em reestruturação. Produzir mais com menos recursos é o caminho adotado pelas empresas para voltarem ao lucro.
Mas produzir mais com menos significa ter menos empregados. Daí as demissões que se seguem às restruturações das empresas.
Agora, digamos que a justiça resolvesse proibir, discricionariamente, demissões, sob a alegação de “proteger empregos”. O que aconteceria? As empresas em dificuldades não conseguiriam se reestruturar. Continuariam a operar com baixa produtividade, até que, em determinado momento, o sócio capitalista avalia que não vale mais a pena investir ali. Fecha o negócio e parte para outro investimento. Não sem antes ter transferido uma parte de seu capital para uma mão de obra de baixa produtividade, quando poderia estar investindo em negócios com produtividade maior, elevando a produtividade da economia como um todo.
Este é o efeito econômico mais relevante desse tipo de decisão: reduzir a produtividade global da economia, em um momento em que precisamos desesperadamente de mais produtividade. Quando dizemos que a renda/capita dos EUA é 5 vezes maior que a brasileira, estamos simplesmente reconhecendo que o americano produz 5 vezes mais do que o brasileiro. Por que trabalha mais? Não. Porque é mais produtivo, conta com formação melhor e tem à disposição mais capital físico e financeiro para produzir. E esse capital físico e financeiro surge do nada? Também não. Surge das oportunidades de lucro, que não estão ameaçadas, entre outras coisas, por decisões esdrúxulas da justiça.
Alguém poderia dizer que o capital poderia se contentar com lucros menores em favor de uma maior remuneração do capital humano. Essa é uma longa discussão. Do ponto de vista teórico isso não é recomendável por dois motivos. Primeiro porque, ao maximizar o lucro, o capital maximiza a produtividade da economia, o que é bom a longo prazo, inclusive porque permite a acumulação de capitais, o que fomenta novos investimentos, que, por sua vez, geram mais empregos. Em segundo lugar, o lucro deve remunerar também o risco do negócio. O lucro não é uma dádiva divina, ele pode não acontecer. Embutido na taxa de retorno requerida pelo capitalista está o risco de não ver o seu dinheiro de volta. É o velho ditado, “eles veem as pingas que eu tomo mas não veem os tombos que eu levo”. Isso é do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, sou capaz de apostar que uma boa parte desses juízes do trabalho investem em bolsa ou em fundos de investimento e exigem o máximo retorno possível. Talvez não façam relação entre o retorno de seus investimentos e o lucro das empresas, trata-se de um raciocínio muito sofisticado. Mas não tenho dúvida de que não estão dispostos a abrir mão de um centavo sequer da remuneração de seus investimentos. O “capitalista” é sempre o outro.
Ao “proteger empregos” pouco produtivos, a justiça brasileira diminui a produtividade geral da economia brasileira e, deste modo, paradoxalmente, dá a sua cota de contribuição para que o desemprego geral seja mais alto. Sim, porque o escasso capital que ainda se aventura a fazer negócios por aqui fica sequestrado por uma pauta “social”, ao invés de buscar oportunidades mais rentáveis, que estariam gerando empregos mais produtivos. Já escrevi isso aqui e repito: a nossa pobreza não é improvisada.