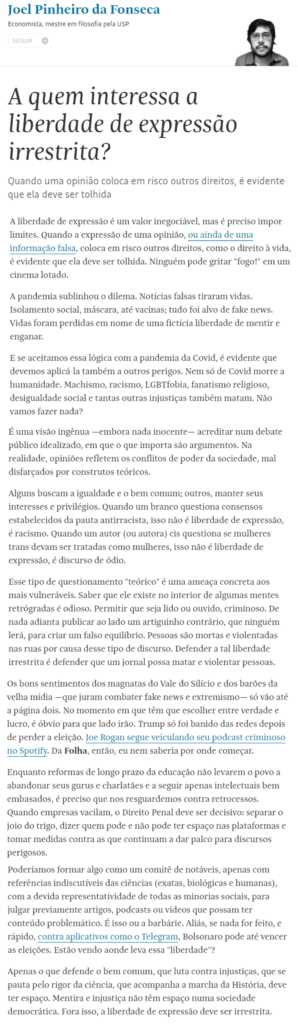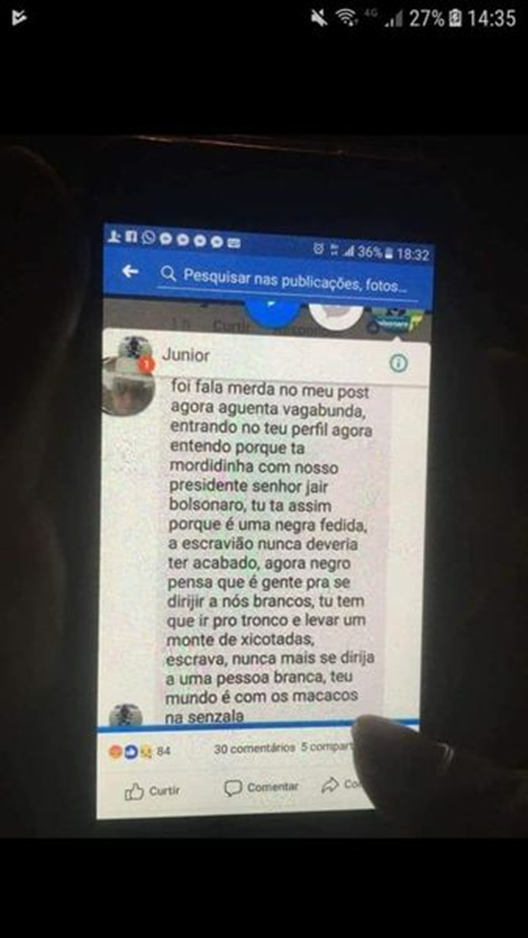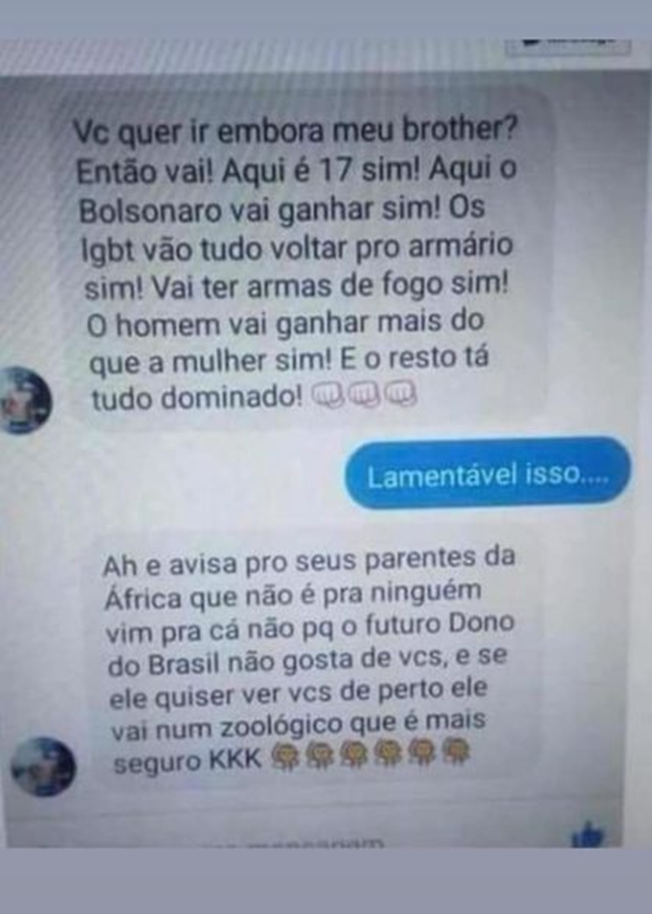Resolvi escrever esse artigo não porque tenha uma ideia clara sobre o assunto, mas justamente porque não a tenho. Às vezes faço isso: escrevo artigos para ordenar minhas ideias sobre um determinado assunto. Escrever me ajuda a pensar.
A Magazine Luiza decidiu restringir seu próximo programa de trainees somente a candidatos negros. Cota de 100%.
Uma primeira observação: vou fazer referência aos negros e pardos simplesmente como negros, para a simplificação do texto e seguindo a tradição norte-americana. Nos EUA, basta ter um pingo de sangue negro para ser considerado negro. Não existem mulatos. Kamala Harris tem a mesma cor de pele de Joe Biden, mas é considerada negra por ter ascendência negra.
Vamos começar descartando algumas ideias, pelo bem do debate. A primeira é que a empresa está querendo somente se autopromover. Sim, trata-se do suprassumo do politicamente correto, causa repercussão positiva, mas podemos conceder que a sua direção esteja genuinamente preocupada com o destino da população negra e, por outro lado, a diversidade é um bem em si e também para os resultados da empresa.
Outra ideia que vamos descartar de cara é o problema da seleção em si. Quem é negro e quem não é? Trata-se de uma empresa privada e, como tal, tem total liberdade de adotar os critérios que melhor se adequam ao seu objetivo. Se será pela cor da pele ou autodeclaração ou descendência, isso é com a empresa. Não cabe falar em “injustiça” porque se adotou critério A, B ou C. A empresa emprega quem ela quiser, com os critérios que achar melhor.
Uma terceira ideia que vamos descartar é a questão socioeconômica. Sabemos que não somente negros têm dificuldade em chegar aos programas de trainee das grandes empresas, muitos brancos também estão à margem desses processos de seleção. Mas não há como negar que há uma grande intersecção entre descendência negra e situação socioeconômica. A intersecção não é 100%, mas é suficientemente grande. Ao privilegiar a população negra, se está também atendendo à questão socioeconômica. Não é 100% justo, mas, novamente, a empresa não está buscando 100% de justiça, está buscando diversidade racial. Tenhamos sempre este objetivo em mente.
Existe uma quarta objeção, esta mais difícil de descartar, que se refere ao racismo reverso. Estaria a empresa fazendo discriminação contra brancos somente por conta da cor de sua pele? Esta discussão é mais difícil do que parece à primeira vista. Sim, diria o raciocínio lógico: afinal, se estou barrando pessoas por causa da cor de sua pele, estou praticando racismo. Mas a coisa não é assim tão simples. Os negros, no Brasil, ganharam a sua alforria no final do século XIX e foram competir em um mercado de trabalho dominado por brancos muito melhor preparados e capitalizados. Esse, digamos, vício de origem, perpetua uma condição inicial muito pouco favorável. Desta forma, barrar brancos não seria racismo, mas compensação histórica. Afinal, os negros é que foram escravizados, não os brancos. O Brasil sofreria do chamado “racismo estrutural”, onde as únicas vítimas do racismo seriam os negros, não os brancos. Portanto, não haveria racismo contra brancos.
Trata-se de um bom argumento, ainda que, como disse, de mais difícil aceitação. Afinal, seleção feita a partir da cor da pele é a própria definição de discriminação. Mas como, no Brasil, a única cor de pele que vem sendo discriminada há mais de 100 anos é a negra, vamos, no mínimo, acatar o argumento de que, se há discriminação reversa, ela é aceitável. Sigamos.
Vencendo esses argumentos iniciais, quero focar agora na efetividade da ação da empresa. Tendo como premissa de que se trata de uma boa ação, nada mais natural do que pensar em sua extensão. Para tanto, vamos imaginar dois cenários: o primeiro é a extensão espacial desse movimento e o segundo a sua extensão temporal.
No primeiro cenário, imagine por um momento que todas as grandes empresas do Brasil adotassem o mesmo procedimento. Universitários brancos não teriam espaço para trabalhar nessas empresas neste ano. Qual seria a reação? Provavelmente, esperariam o ano seguinte para se inscrever. Afinal, são essas empresas que pagam os melhores salários, e programas de trainee formam os dirigentes de amanhã. Nesse meio tempo, fariam bicos e estudariam mais. Perderiam um ano em suas carreiras, mas não seria um desastre.
O segundo cenário é mais interessante. Na extensão temporal, a Magazine Luíza tornaria permanente este critério. Aliás, por que somente por um ano? Um processo seletivo apenas está longe, muito longe, de resolver o problema da diversidade racial na empresa. Tornar este processo permanente garantiria este objetivo ao longo do tempo. A empresa o fará? Provavelmente não. E é com honesta tristeza que digo isso. A Luíza iria descobrir (se é que já não sabe) que restringir o processo a determinados grupos indefinidamente deteriorará a qualidade de seus quadros. E isso não por falta de capacidade dos negros, mas por falta de formação ao longo de uma vida. Não por outro motivo, este processo de seleção não considerará o domínio do inglês como fator de seleção. A dura realidade é que o problema vem lááááá de trás, da formação básica, e vai se acumulando com o tempo. Não se trata de dar uma chance que o negro vai mostrar o seu valor. A chance foi perdida na primeira infância, e recuperar depois disso é praticamente impossível. Em um mercado competitivo, esse gap de formação acaba pesando. Cotas em universidades e, agora, na admissão de empresas, são bandeides em uma fratura exposta. Ajudar sempre ajuda, mas está longe de resolver.
Parece que há estudos demonstrando que os estudantes admitidos por cotas têm performance semelhante aos que foram admitidos fora das cotas. É possível. A interação com pessoas de fora das cotas, que tiveram melhor formação ao longo da vida, certamente ajuda a desenvolver uma potencialidade que, de outra maneira, ficaria hibernando. Talvez um sistema de cotas na admissão das empresas funcionasse. Mas cota de 100% é outra coisa. Aliás, será interessante observar o que empresa fará no ano que vem. Se diminuir a cota, a mensagem que passará é de que não funcionou, ou que a política não é realmente sustentável. Acho que se colocou em uma armadilha.
Um terceiro cenário hipotético seria a adoção de cota de 100% todos os anos por todas as empresas. Seria o lógico a se fazer, considerando o problema a ser resolvido. É factível? Tem candidato para todo mundo? Receio que não. Como disse, o problema é muito anterior, e as empresas acabam sofrendo com o gap de formação que a população negra sofre desde os seus primeiros anos de vida. Além disso, e aí sim, a população branca estaria sendo alijada do processo para sempre, ou até que as “diferenças estruturais” desaparecessem, o que pode bem durar mais de uma geração. O que aconteceria com essa parcela da população? Certamente perderia o incentivo pela sua própria formação, uma vez que, por construção, a recompensa dos melhores empregos não estaria ao seu alcance. Teríamos uma deterioração generalizada da qualidade da mão de obra, pois a melhora da qualidade da mão de obra negra precisa vir da base, dos primeiros anos de vida, o que está longe de ser uma certeza.
Entendo que a iniciativa da Magazine Luíza é meritória em dois sentidos. No primeiro, coloca no horizonte da população negra a possibilidade de concorrer a uma vaga disputadíssima no mercado de trabalho. Normalmente, pessoas com baixo nível socioeconômico, negros incluídos, nem aventam essa possibilidade. “Não vou nem tentar, pois sei que não vou conseguir”, pensam. Um processo especificamente para negros abre uma janela de oportunidade na mente das pessoas-alvo que, de outra forma, não existiria.
O segundo mérito da iniciativa da empresa é chamar a atenção, de uma maneira bastante enfática, para um problema crônico brasileiro, a falta de diversidade em seus quadros diretivos. Um problema que não foi ela, nem nenhuma das grandes empresas, que criou. Na verdade, um problema estrutural de difícil solução.
Corro o risco de cair no lugar comum, mas enquanto não encararmos de frente o problema da formação das crianças independentemente da sua origem, estaremos enxugando gelo. Sim, ações afirmativas são excelentes, e devem ser feitas. Mas receio que o efeito para o marketing seja muito maior do que para a causa em si. Chama a atenção para o problema, mas está longe de o resolver. Melhor que nada. Mas precisamos de muito mais do que isso.