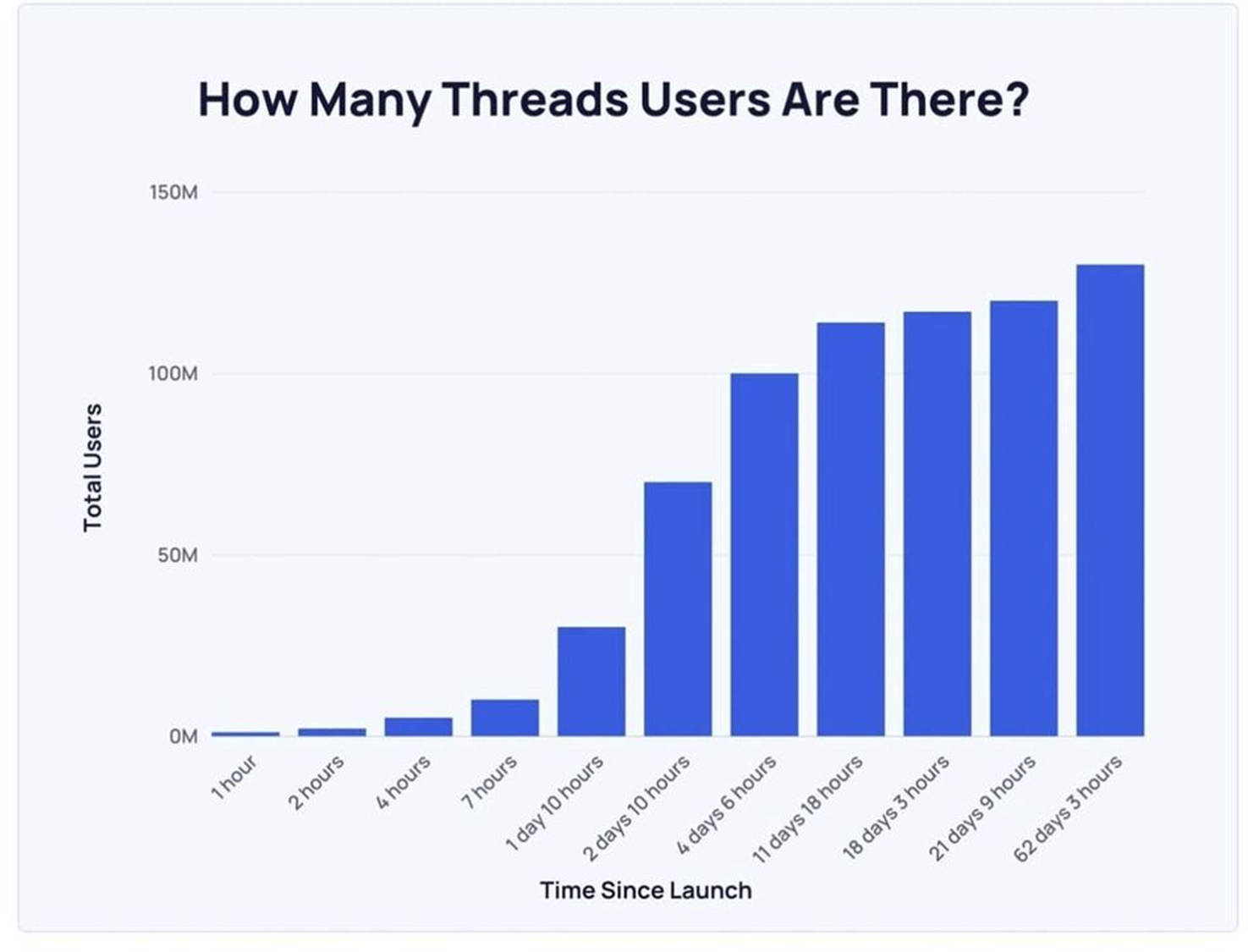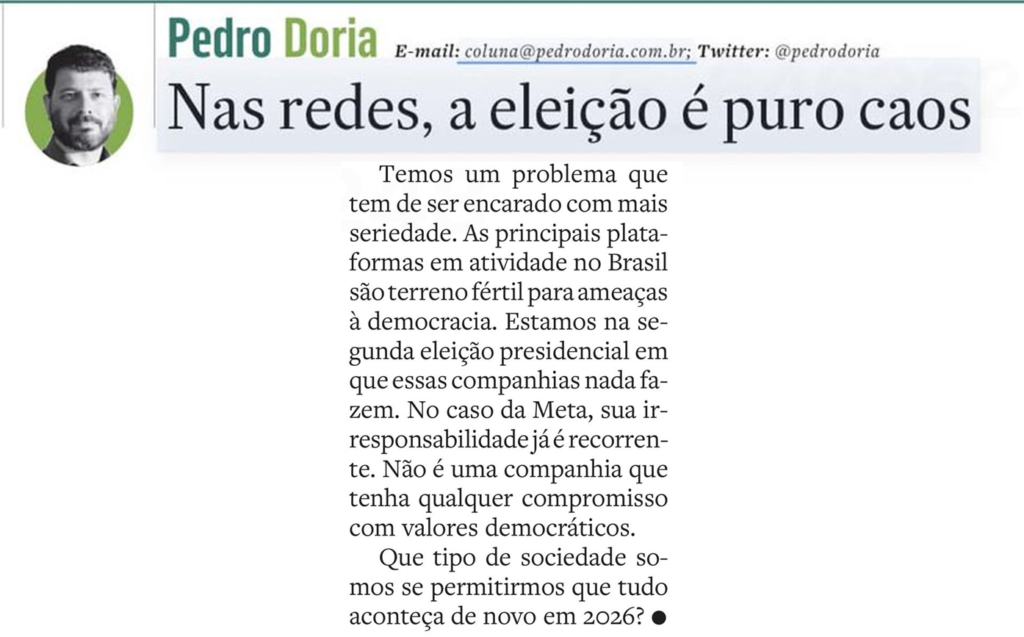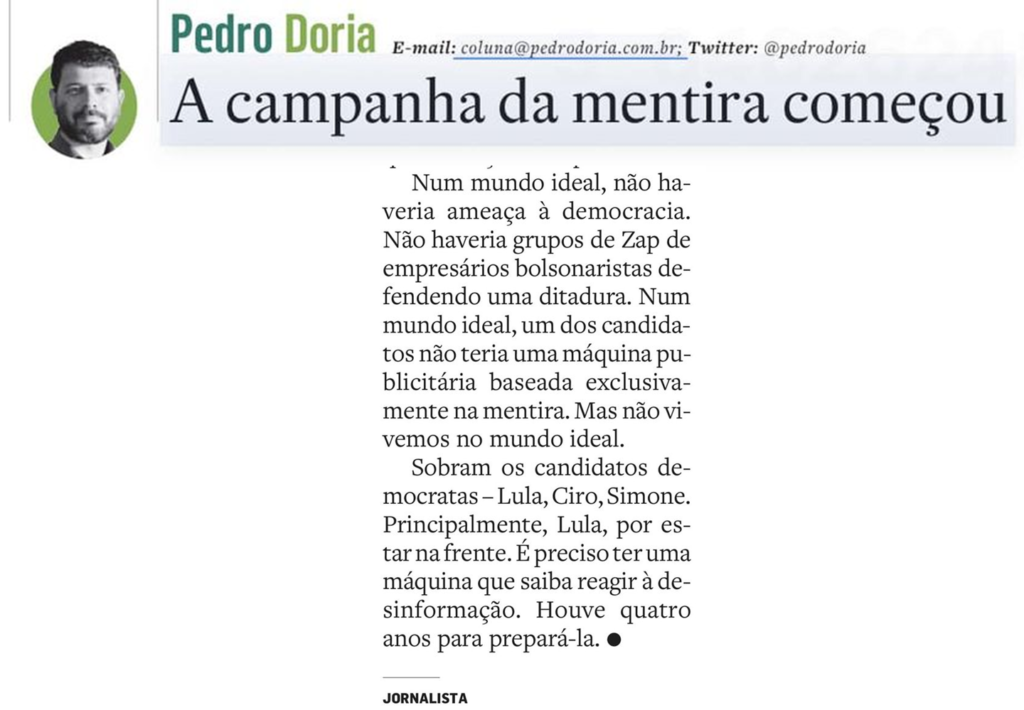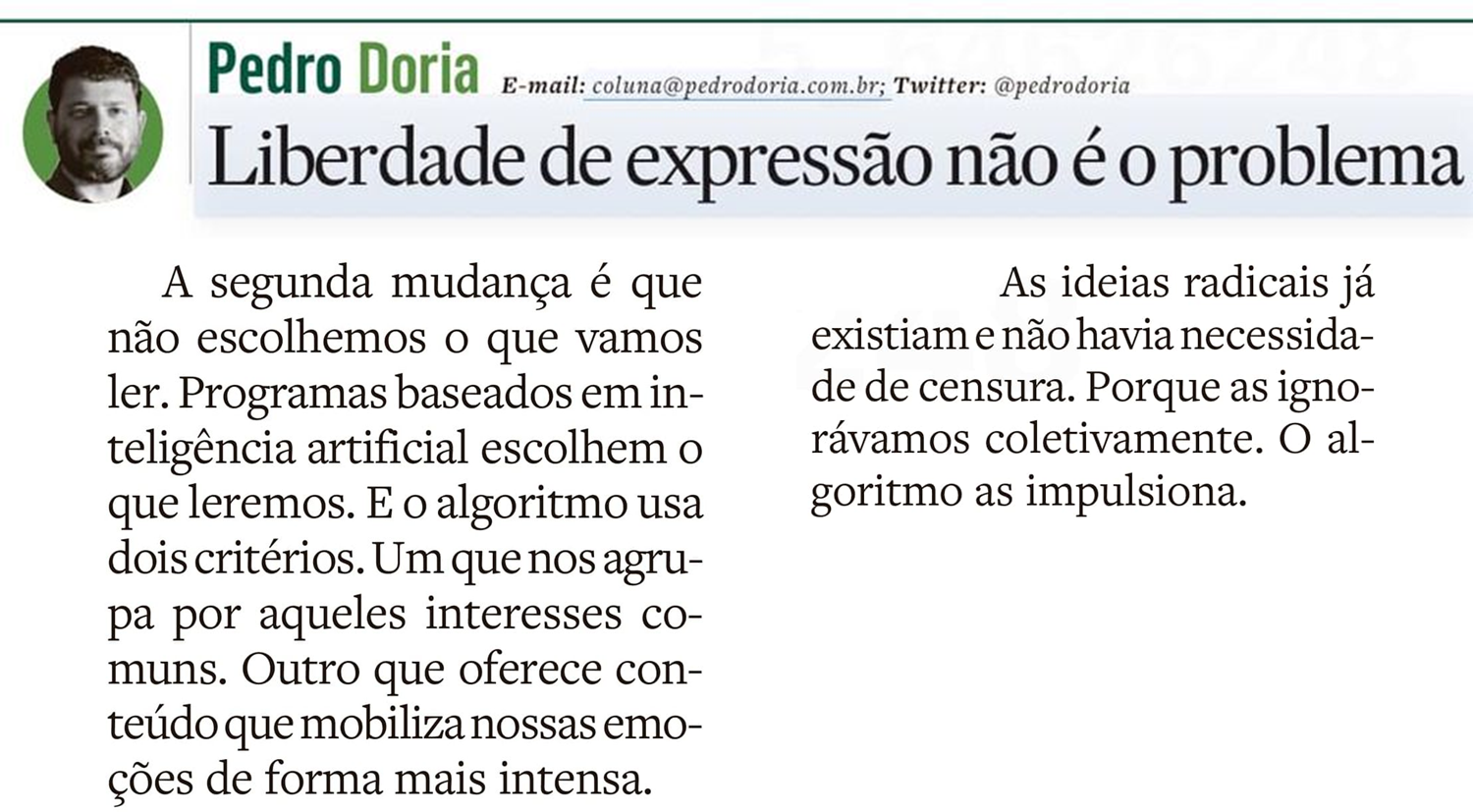
Em sua coluna de ontem, Pedro Doria pondera que o problema não é o que é dito, mas como o que é dito chega até nós. O colunista nos lembra que, no passado, para nos informarmos sobre o que ia no mundo, precisávamos ler jornais, ouvir rádio e assistir a TV, tudo isso à nossa livre escolha. Ou seja, escolhíamos a que tipo de informação teríamos acesso. Hoje não. Hoje, são os algoritmos que decidem o que vamos ler, ouvir e assistir. Assim, e essa é a conclusão de Doria, “as ideias radicais já existiam e não havia necessidade de censura, porque as ignorávamos coletivamente, e hoje os algoritmos as impulsionam”. Não está dito, mas fica subentendida a necessidade de censura do conteúdo das redes.
Os malabarismos de Pedro Doria para defender a censura nas redes estão equivocadas em dois aspectos.
Em primeiro lugar, as pessoas nunca foram livres para ler o que bem entendessem. Sempre houve um algoritmo, no caso, humano, que define o que vai aparecer nos jornais e programas de rádio e televisão. Não somente a notícia que vai aparecer, mas o tom dado. Durante crises políticas, faço questão de assistir ao Jornal Nacional, pois quero entender como a Globo está se posicionando, dado o seu grande poder de influência (hoje menor por conta das redes, mas ainda assim grande). Inclusive, o apelo à emoção, um dos elementos dos algoritmos das redes, sempre esteve presente na confecção das manchetes. O clique de hoje era a compra do jornal na banca de ontem. As redes somente automatizaram o processo. E cabe destacar que o algoritmo humano era tão opaco quanto o automatizado, a não ser quando sob censura estatal, ocasião em que o algoritmo fica claro para todo mundo.
Ainda sobre este primeiro aspecto, pode-se argumentar que a imprensa tradicional responde pelo que publica, o que não acontece com as redes. E nem poderia. Afinal, o jornal publica conteúdo próprio, ao passo que as redes publicam conteúdos de terceiros. São os terceiros que devem assumir a responsabilidade, não as redes. Apesar disso, as redes já hoje mobilizam exércitos de funcionários para monitorar e retirar conteúdos criminosos das redes. Mas sabemos que não é disso que se trata, mas sim, da repressão a conteúdos políticos, como se a imprensa tradicional não assumisse posicionamentos políticos em cada linha e frase que os editores decidem publicar.
O segundo aspecto a se considerar é a afirmação de que, antes dos algoritmos automatizados, ideias extremistas ficavam isoladas, não causando mal às sociedades. Joseph Goebbles daria gostosas gargalhadas diante de uma afirmação dessas. O chefe da propaganda do Reich não precisou de um Tik Tok para manipular a sociedade alemã. Aliás, cabe se perguntar se a sociedade alemã não se deixou manipular voluntariamente. As coisas são muito mais complexas do que a ideia simplista de manipulador-manipulados. O fato é que os radicalismos políticos antecederam as redes em muitos milênios.
Toda essa elaboração elegante de Pedro Doria serve apenas para justificar a censura, o que não deixa de ser triste, em se tratando de um jornalista.
Corroborando o que escrevi acima, quando pressionei a tecla “publicar” no Facebook, recebi uma mensagem alertando para o fato de que o meu post poderia ferir as “regras da comunidade”, e que a minha conta poderia sofrer restrições. Imagino (só imagino) que tenha sido pelo fato de ter usado a palavra “n a $ i s t a”. Troquei a palavra por Reich, vamos ver. Aliás, essa é a primeira vez que isso acontece comigo, uma experiência nova.
É sobre isso: as redes já filtram certos conteúdos, com base em critérios opacos. Exatamente como fazem os editores na imprensa tradicional.